Olá pessoal tudo bem?
Dia da nossa SQ, maior programa totalmente grátis de questões discursivas do país.
O projeto já tem mais de 5 anos e já corrigi mais de 10 mil respostas enviadas ao blog e tenho a convicação: a SQ ajuda muita gente e quem treina com freqüência vai muito melhor na 2 fase.
A questão dessa semana foi a seguinte:
O termo litigância predatória consiste em uma prática que envolve o ajuizamento de processo judiciais em massa sem fundamento razoável, petições padronizadas, genéricas e artificiais, geralmente, para obter vantagens indevidas prejudicando a(s) outra(s) parte(s) na demanda judicial, seja para a obtenção indevida de lucros pecuniários ou como forma de intimidação, além de sobrecarregar o poder judiciário com processos judiciais que tiveram seus objetivos desvirtuados.Em regra, tal prática gera processos infundados, comumente propostos contra instituições financeiras (bancos públicos e privados), companhias aéreas ou empresas de telefonia, com petições iniciais padronizadas e alegações de fato genéricas, para criação de litígios artificiais.De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a prática contraria a lógica de cooperação instituída pelo novo CPC e poderá configurar litigância de má-fé, acarretando a aplicação de multa e até mesmo o não recebimento da petição inicial por falta de interesse processual.De mais a mais, para combater a litigância predatória o Judiciário tem adotado medidas de verificação das condições da ação antes do recebimento da inicial, como expedição de mandado de constatação ou exigência do comparecimento em cartório da parte autora para confirmar o interesse no ajuizamento da ação ou necessidade de reconhecimento de firma na procuração. São requisitos não previstos em lei, mas admitidos pela jurisprudência a fim de evitar a sobrecarga da máquina estatal com processos que buscam apenas a obtenção de vantagem indevidaPor fim, o STJ, em recente julgado, definiu que constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
A litigância predatória é fenômeno típico de sociedades massificadas e que, consequentemente, produzem litígios em massa. Tal instituto é conceituado pela doutrina como sendo a distribuição de várias ações judiciais, em foros diversos, com a finalidade de dificultar o exercício do direito de defesa pela parte demandada.
De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, essa prática contraria a lógica de cooperação instituída pelo novo CPC e poderá configurar litigância de má-fé, acarretando a aplicação de multa e até mesmo o não recebimento da petição inicial por falta de interesse processual.
Nessa linha, ressalta-se que, em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o STF reconheceu a litigância predatória na prática de múltiplas proposituras de ações judiciais contra jornalistas, buscando indenização por dano moral decorrente de conteúdos publicados, sendo essas ações distribuídas em diferentes foros. De acordo com o referido julgamento, reconhecida a litigância predatória, poderão as ações serem reunidas e julgadas no foro de domicílio do réu.
Na mesma lógica de reação judicial à litigância predatória, o STJ, em recente julgado, definiu a possibilidade de que o magistrado, suspeitando de litigância predatória, determine à parte ou ao advogado que emende a inicial, comprovando a causa de pedir e juntando documentos como procuração atualizada.
Anônimo3 de abril de 2025 às 06:57A litigância predatória consiste em demandas de massa, ajuizadas sob a gratuidade da justiça sem mínimo lastro comprobatório e, portanto, sem legítimo respaldo no direito de ação amparado pelo texto constitucional.
São processos infundados, comumente propostos contra instituições financeiras (bancos públicos e privados), companhias aéreas ou empresas de telefonia, com petições iniciais padronizadas e alegações de fato genéricas, para criação de litígios artificiais.
Para reduzir o expressivo número de feitos idênticos e supostamente fraudulentos, o STJ decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que o juiz pode, depois de constatar indícios de advocacia predatória, determinar a emenda da petição inicial, sob pena de ser indeferida, para demonstração da regularidade da representação da parte e do interesse de agir.
Registre-se que o resultado foi impulsionado pela atuação conjunta dos tribunais pátrios, a partir de estudos do Centro de Inteligência da Justiça do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal e diversos outros Estados, que lastrearam o julgamento do recurso representativo da controvérsia.
Com efeito, a questão já vinha sendo encaminhada país afora no sentido de que o poder geral de cautela conferido ao magistrado lhe autoriza, afinal, por meio de um juízo de cognição sumária, exigir a apresentação de documentos que considere indispensáveis à prestação jurisdicional, inclusive procuração atualizada – privilegiando-se a boa-fé processual e o dever de cooperação entre todos os sujeitos para o andamento regular do feito.
Paula L.
Anônimo7 de abril de 2025 às 21:25Litigância probatória é o termo usado para o abuso do acesso à justiça e direito de petição por meio de ações judiciais em massa, sem litigiosidade real. Trata-se de um problema que vem sendo enfrentado pelo Judiciário, em razão do elevado custo operacional e processual, além da maior morosidade para julgamento dos litígios reais.
Dentre as principais características dessas ações se verifica as petições iguais ou muito semelhantes, com a mesma narrativa, geralmente contra grandes litigantes, sem fundamento, por beneficiários da justiça gratuita.
O baixo custo do trabalho com o ajuizamento potencializa os ganhos. A aposta em uma defesa genérica e massiva das grandes empresas também aumenta a chance de ganho, especialmente considerando que essas ações costumam tratar de direito do consumidor e aproveitar a eleição de foro para ajuizamento no foro que parece mais conveniente ao litigante.
Desse modo, para combater a litigância predatória o Judiciário tem adotado medidas de verificação das condições da ação antes do recebimento da inicial, como expedição de mandado de constatação ou exigência do comparecimento em cartório da parte autora para confirmar o interesse no ajuizamento da ação ou necessidade de reconhecimento de firma na procuração. São requisitos não previstos em lei, mas admitidos pela jurisprudência a fim de evitar a sobrecarga da máquina estatal com processos que buscam apenas a obtenção de vantagem indevida.
Patrícia Q3 de abril de 2025 às 17:15O termo litigância predatória consiste em uma prática que envolve o ajuizamento de processo judiciais em massa sem fundamento razoável, petições padronizadas, genéricas e artificiais, geralmente, para obter vantagens indevidas prejudicando a(s) outra(s) parte(s) na demanda judicial, seja para a obtenção indevida de lucros pecuniários ou como forma de intimidação, além de sobrecarregar o poder judiciário com processos judiciais que tiveram seus objetivos desvirtuados.
A Constituição Federal de 1988 no artigo 5° inciso XXXV consagra o direito de ação, também conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição, elencado como um direito fundamental que garante a todos o acesso à justiça. Em contrapartida, o Código de Processo Civil no artigo 5° consagra o princípio da boa-fé processual que se aplica a todos os participantes do processo, sendo um mecanismo de controle contra abusos processuais, na qual todos devem agir com honestidade e lealdade em todo o processo judicial. Nessa esteira, é perceptível o abuso ao direito de ação e ausência da boa-fé processual diante da caracterização da litigância predatória.
Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a recomendação de número 159/2024, que tem como propósito identificar, tratar e prevenir essa prática abusiva. No mesmo sentido, em decisão recente, do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.198, determinou a substituição do termo para litigância abusiva, em conformidade com a terminologia utilizada pelo CNJ, além de orientar juízes e tribunais a exigir do autor que emende a inicial com mais detalhes sobre a ação, juntada de documentos, comprovante de residência, procuração atualizada, o que for necessário, com intuito de coibir a litigância predatória.
A litigância predatória é responsável por abarrotar o Poder Judiciário de ações infundadas e pretensões irreais, como se o direito de ação, fundamentalmente assegurado pela Constituição Federal como cláusula pétrea (art. 5°, XXXV e art. 60, §4°, IV; CF), fosse um lacaio do alvedrio de advogados inescrupulosos.
Dica2:
O Poder Judiciário possui diversas ferramentas para enfrentar o fenômeno. A providência mais evidente é a imposição de multas à parte e aos procuradores, seja por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), seja por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), dado que a litigância predatória é manifesta violação aos deveres consagrados na legislação processual (art. 77, caput e incisos, do CPC), inclusive o dever de cooperação que vincula todas as partes do processo (art. 6º do CPC).
Atenção:
Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a recomendação de número 159/2024, que tem como propósito identificar, tratar e prevenir essa prática abusiva. No mesmo sentido, em decisão recente, do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.198, determinou a substituição do termo para litigância abusiva, em conformidade com a terminologia utilizada pelo CNJ, além de orientar juízes e tribunais a exigir do autor que emende a inicial com mais detalhes sobre a ação, juntada de documentos, comprovante de residência, procuração atualizada, o que for necessário, com intuito de coibir a litigância predatória.
Vamos para a SQ 13/2025 - DIREITO PENAL -
POR QUAIS MOTIVOS SE DIZ QUE A CULPABILIDADE É NORMATIVA PURA?
Responder nos comentários em fonte times 12, limite de 10 linhas de computador. Vedada qualquer forma de consulta, inclusive na lei seca. Responder até 16/04/2025.



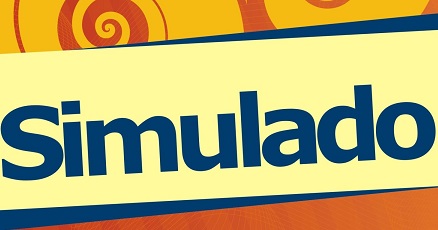
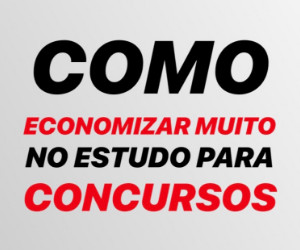

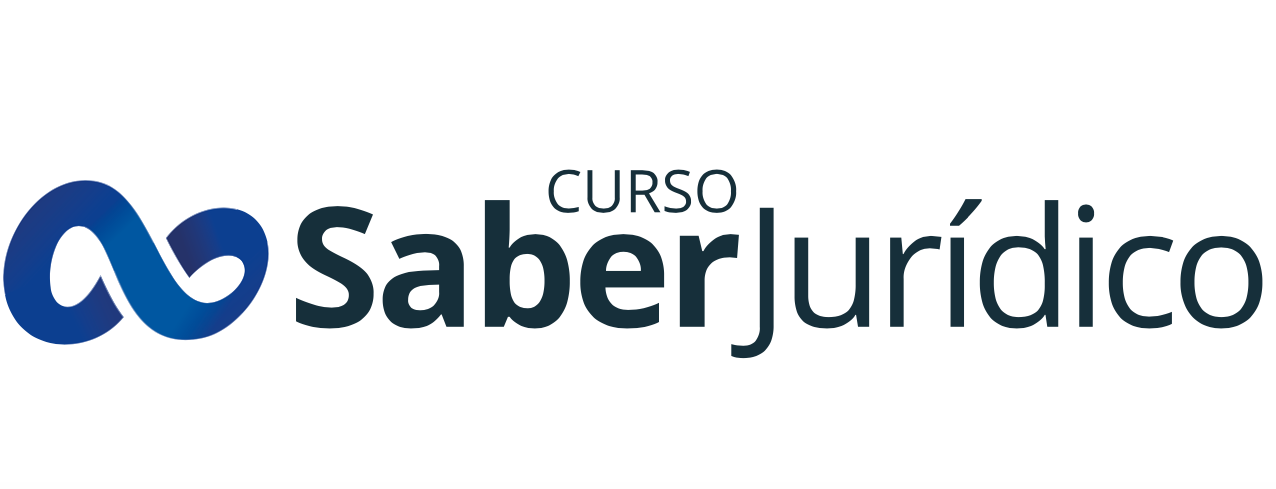
A culpabilidade caminhou de uma perspectiva psicológica para uma normativa.
ResponderExcluirNa teoria psicológica (e na normativo-psicológica), a culpabilidade previa dois elementos centrais: o dolo e a culpa. Assim, a culpabilidade era entendida como o liame psicológico entre o agente e a conduta. Trata-se de entendimento refratário da teoria clássica da conduta. Com o advento da teoria finalista, dolo e culpa foram inseridos na conduta, que passou a ser a prática de ato orientado a determinado fim.
A culpabilidade, despida do dolo e da culpa (agora elementos da conduta), passou a abarcar somente elementos normativos, quais sejam, a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Daí, portanto, dizer-se que a culpabilidade, em nosso ordenamento, é normativa pura.
O conceito analítico de crime envolve o conceito de culpabilidade. Na evolução dos sistemas penais, a doutrina cita o sistema clássico e o sistema finalista, este último adotado pelo Código Penal brasileiro.
ResponderExcluirNo sistema clássico, a culpabilidade era dita psicológica, pois composta pelo dolo valorado – enquanto real consciência da ilicitude – e pela culpa. Já no sistema neoclássico, para além dos elementos da culpabilidade psicológica, integrou-se também a exigibilidade de conduta diversa – falando-se, portanto, em culpabilidade psicológico-normativa.
Por fim, diz-se que a culpabilidade do sistema finalista é normativa pura na medida em que composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa, ou seja, desvinculada de elementos subjetivos, os quais passaram a integrar o primeiro substrato do crime (conduta/fato típico).
Eduardo, tudo bem? Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo blog, sempre aprendo muito por aqui! Quanto às SQ: ainda não consigo respondê-las sem consulta. Acha válido responder com consulta ou apenas ler as respostas dos colegas? Agradeço desde já!
ResponderExcluirSe possível, volte a colocar o nível de dificuldade das perguntas :) muito obrigada desde já! Grata pelo blog!
ResponderExcluirGuilherme G.
ResponderExcluirA culpabilidade, historicamente, com o causalismo, era o dolo naturalístico (consciência e vontade) e a culpa, prevalecendo a teoria psicológica que apenas aferia a relação psíquica entre o agente e o resultado, sendo o único pressuposto a imputabilidade do agente. Com a introdução do neokantismo, a culpabilidade passa a ter como elementos a imputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, a culpa e o dolo normativo, composto de consciência, vontade e consciência atual da ilicitude, sendo por essa razão chamada a culpabilidade de psicológica normativa. Posteriormente, Hans Welzel elabora o finalismo penal, e, como consequência, há a migração dos elementos psíquicos dolo/culpa para a tipicidade, permanecendo o elemento normativo potencial consciência da ilicitude na culpabilidade, de maneira a tornar a culpabilidade normativa pura.
O conceito de culpabilidade foi modificado ao longo da história da teoria do delito. No causalismo de Liszt, adotou-se um conceito puramente psicológico da culpabilidade: esta era formada somente por elementos subjetivos, i.e., a imputabilidade e o dolo ou culpa.
ResponderExcluirJá no neokantismo de Frank e Mezger, adotou-se um conceito psicológico-normativo da culpabilidade, agregando-se àqueles elementos subjetivos um elemento normativo, qual seja, o juízo de reprovação da conduta ilícita.
Por fim, no finalismo de Welzel, adotou-se um conceito puramente normativo da culpabilidade: deslocou-se o dolo e a culpa para a tipicidade, de forma que a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre alguém que podia ter se conformado à norma. Esse é conceito adotado pelo nosso Código Penal e pela doutrina majoritária.
A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade que recai sobre o agente pela prática de uma conduta típica e ilícita. A compreensão da responsabilidade penal evoluiu de uma visão puramente psicológica — centrada apenas no dolo ou na culpa — para uma abordagem mais completa. Percebeu-se que essa leitura inicial era insuficiente, por desconsiderar a capacidade do agente de entender e obedecer à lei, aspecto fundamental para uma responsabilização justa.
ResponderExcluirAssim, desenvolveu-se uma concepção chamada de teoria normativa, que passou a considerar a culpabilidade como um juízo jurídico, e não apenas psicológico. A partir disso, chegou-se à chamada teoria normativa pura, adotada pelo Direito Penal moderno.
A culpabilidade é considerada normativa pura porque consiste em um juízo de valor sobre a conduta do agente, e não apenas em um dado psicológico. Fundamenta-se em três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esses critérios asseguram que só será punido quem tinha real capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e agir conforme o Direito, funcionando como um limite ético e jurídico à imposição da pena.
Com o avanço do Direito Penal na história, a teoria do crime foi evoluindo ao patamar que conhecemos hoje. Contudo, até chegarmos à conclusão de que a culpabilidade segue a teoria normativa pura, várias teorias foram criadas e, de certa forma, evoluídas ao longo dessa trajetória.
ResponderExcluirInicialmente, na teoria clássica, a culpabilidade consistia na análise de dolo e culpa, adotando-se a teoria psicológica pura. Com a teoria neoclássica, também conhecida como neokantiana, a culpabilidade passou a acrescentar, além do dolo e culpa, a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. Por fim, com a teoria finalista, adotada pelo Código Penal, a culpabilidade compreende a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. A análise de dolo e a culpa foi deslocada para o fato típico. Por isso, diz-se que a culpabilidade é normativa pura.
A culpabilidade, como o terceiro substrato do crime na teoria analítica (crime é fato típico, ilícito e culpável), é composta, modernamente, em adoção ao finalismo penal de Wetzel, pelos requisitos da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
ResponderExcluirNote-se que, diversamente das teorias do causalismo e neokantismo (teorias da conduta), em que os elementos psicológicos dolo e culpa integravam a culpabilidade (teoria psicológica e psicológico-normativa da culpabilidade, respectivamente), para o finalismo, a culpabilidade é composta apenas por elementos normativos (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), daí a designação de teoria normativa pura da culpabilidade. Os elementos psicológicos, dolo e culpa, passam, então, a integrar o fato típico.
Quanto às teorias da conduta, a clássica e kantiana concebiam o crime como ato típico, ilícito e culpável, todavia, inseriam o dolo e a culpa dentro do conceito de culpabilidade, o que fazia com que sempre fosse vislumbrado um elemento psicológico na culpabilidade.
ResponderExcluirPorém, o CP adotou a teoria finalista de Hans Wezel, que inseriu o dolo e a culpa na tipicidade, fazendo com que o ordenamento jurídico passasse a adotar a teoria normativa pura da culpabilidade, em que no conceito de culpabilidade remanesce somente um juízo de reprovabilidade, formado pelos elementos de imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
A culpabilidade é normativa pura, portanto, pelo fato de não possuir mais elementos psicológicos em seu bojo, uma vez que estes são valorados no âmbito da tipicidade, e por, subsistir o elemento normativo (exigibilidade de conduta diversa), de forma autônoma junto aos demais.
A culpabilidade, segundo a teoria finalista, é um juízo de reprovação social incidente sobre o fato típico e ilícito e seu autor (que precisa ser imputável, ter agido com potencial consciência da ilicitude e com exigibilidade de comportamento diverso). Com isso, os elementos psicológicos – o dolo e a culpa – anteriormente integrantes deste substrato do conceito de crime, consoante teorias diversas, foram migrados para a conduta, dentro do fato típico.
ResponderExcluirEm outras palavras, justamente por sua análise ser de acordo com normas jurídicas positivadas, sem aferição da intenção psicológica do agente (dolo ou culpa, analisados no fato típico, pela movimentação corpórea dotada de finalidade), é que a culpabilidade se reveste do manto de “normativa pura”.
Segundo a teoria tripartite o crime é composto por fato típico, ilícito e culpável, os três substratos que formam o seu conceito. Nesse sentido, o conceito de culpabilidade evoluiu ao longo da história, os clássicos adotavam a teoria psicológica, os neokantistas a teoria psicológica-normativa e os finalistas a teoria normativa pura.
ResponderExcluirNesses termos, a alteração crucial feita pelo finalismo em relação aos clássicos foi colocar o dolo e a culpa no fato típico, retirando-os da culpabilidade. Assim, a culpabilidade ficou esvaziada de elemento psicológico, sendo composta apenas pela imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude e recebendo o nome de teoria normativa pura.
Insta salientar que o Código Penal brasileiro utiliza a teoria normativa pura limitada, em que as descriminantes putativas equivalem a erro de tipo, diferente da extremada que as considera como erro de proibição.
A culpabilidade integra o conceito analítico do crime, ao lado do fato típico e ilicitude. Inicialmente, para as escolas clássicas e neokantiana, a culpabilidade partia da análise do dolo e culpa, somada a consciência da ilicitude do agente, adotando-se a teoria naturalística.
ResponderExcluirCom a evolução da ciência penal e adoção do conceito finalista da ação, na qual o dolo e a culpa passaram a integrar a conduta, a culpabilidade restringiu-se à análise da capacidade de compreensão do indivíduo sobre a ilicitude do fato e sua autodeterminação. Desse modo, o conceito da culpabilidade desprendeu-se da esfera ontológica e assumiu uma conotação valorativa, sendo denonimada de teoria normativa pura
No Direito Penal, o crime pode ser explicado segundo a concepção analítica, que o desenvolve a partir de três substratos: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. No primeiro estágio estão alocados a conduta, o dolo e a culpa, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. No segundo estágio está compreendida a ilicitude. E, por fim, no terceiro estágio, analisa-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Dentre as diversas teorias desenvolvidas para o fim de explicar a culpabilidade, compreende-se a teoria normativa pura ou finalista de Hans Welzel, cuja principal concepção é considerar que toda conduta humana é dirigida a uma finalidade. Assim, retira-se da culpabilidade a análise do dolo e da culpa, que passam a ser analisados já no primeiro substrato, do fato típico. Ou seja, quando alguém pratica uma conduta já se perquire se o faz dolosa ou culposamente, de modo que na culpabilidade somente se analisa o juízo de reprovabilidade da conduta, sob um aspecto puramente normativo, sem perquirir o aspecto psicológico do agente.
ResponderExcluirPorque atualmente se adota, no estudo da Teoria do Crime, a corrente finalista da ação.
ResponderExcluirA Teoria do Crime perpassa três teorias que descrevem os substratos do crime a fim de explicar o fenômeno criminoso. Assim, Causalismo, Neokantismo e Finalismo concebiam cada substrato – tipicidade, ilicitude e culpabilidade – como detentor de elementos próprios. No Finalismo de Welzel, uma vez que a ação, integrante da tipicidade, foi concebida como “o comportamento humano voluntário dirigido a um fim”, o vínculo psicológico do autor (dolo e culpa), que, nas teorias anteriores, compunha a culpabilidade, foi deslocado para a tipicidade.
Assim, a culpabilidade, no Finalismo, perdeu seus caracteres psicológicos, restando-lhe apenas componentes de natureza normativa: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, sendo então a culpabilidade puramente normativa.
Com a concepção da Teoria Finalista acerca do conceito analítico de crime, o dolo passou a ser considerado dentro da estrutura da conduta, inserta no fato típico, primeiro substrato do referido conceito, em contraposição às Teorias Clássicas (orientada pela Teoria Psicológica da Culpabilidade) e Neoclássica (orientada pela Teoria Psicológica Normativa da Culpabilidade).
ResponderExcluirIsto porque, de acordo com Hans Welzel, toda conduta humana voluntária possui uma finalidade, isto é, uma intenção, ainda que superficial.
Não se poderia, desta forma, considerar o elemento subjetivo dentro da culpabilidade – último substrato do delito -, entendida como o juízo de reprovação que recai sobre o agente do fato criminoso.
Com isso, a culpabilidade passou a ser entendida como normativa pura, pois composta somente por elementos normativos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, inexistindo qualquer análise de elemento subjetivo (dolo ou culpa) neste momento.
Com a concepção da Teoria Finalista acerca do conceito analítico de crime, o dolo passou a ser considerado dentro da estrutura da conduta, inserta no fato típico, primeiro substrato do referido conceito, em contraposição às Teorias Clássicas (orientada pela Teoria Psicológica da Culpabilidade) e Neoclássica (orientada pela Teoria Psicológica Normativa da Culpabilidade).
ResponderExcluirIsto porque, de acordo com Hans Welzel, toda conduta humana voluntária possui uma finalidade, isto é, uma intenção, ainda que superficial.
Não se poderia, desta forma, considerar o elemento subjetivo dentro da culpabilidade – último substrato do delito -, entendida como o juízo de reprovação que recai sobre o agente do fato criminoso.
Com isso, a culpabilidade passou a ser entendida como normativa pura, pois composta somente por elementos normativos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, inexistindo qualquer análise de elemento subjetivo (dolo ou culpa) neste momento.
A culpabilidade, além de princípio do Direito Penal, é um dos estratos da teoria tripartite de crime, que o define como ato típico, ilícito e culpável. Inicialmente, no âmbito da teoria clássica, era psicológica, abarcando em seu conceito o dolo e a culpa. Na teoria neoclássica ou neokantista, manteve o dolo e a culpa em seu conceito, mas abarcou o elemento valorativo ‘exigibilidade de conduta diversa’, passando a ser psicológica-normativa.
ResponderExcluirCom a adoção da teoria finalista, o dolo e a culpa passaram a ser analisados na tipicidade, de forma que a culpabilidade apenas ficou com elementos normativos, sendo a imputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Assim, no finalismo, a culpabilidade é normativa-pura, sem elementos psicológico em seu conceito.
A teoria finalista, proposta por Hans Welzel e adotada pelo Código Penal brasileiro, deslocou o dolo e a culpa, na estrutura do delito, da culpabilidade para a tipicidade. Assim, a intenção do agente deve ser observada no âmbito do tipo penal, observando se a finalidade/conduta condiz com o preceito primário da norma penal.
ResponderExcluirAssim, a culpabilidade, despida de critérios psicológicos, tornou-se normativa pura. Isso quer dizer que não mais se avalia, nesta parte da estrutura do delito, critérios subjetivos. Subsistem, portanto, apenas critérios objetivos, quais sejam: a imputabilidade, a exigência de conduta diversa e a potencial consciência acerca da ilicitude.
Primeiramente, deve-se entender que o conceito analítico do crime é definido pelo fato típico, antijurídico e culpável. Vale ressaltar, que para a teoria finalista da ação de Hans Welzel e a teoria da causalidade a culpabilidade tem conceito divergente.
ResponderExcluirA culpabilidade é o juízo de reprovabilidade pessoal do agente considerando as suas condições subjetivas, dentro do ordenamento jurídico possuem algumas teorias que tentam explicar esse conceito como : a ) teoria psicológica;b) teoria psicológica-normativa e c) teoria normativa pura que subdvide-se em : c.1) Teoria extremada e c.2) teoria limitada , que é a adotada pelo Código Penal.
Dessa forma, os motivos pelos quais a culpabilidade é normativa-pura se dar através dos elementos que a constituem como: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa, pois não se trata de uma constatação fática psicológica , mas sim a aferição se a conduta praticada pelo agente é ou não penalmente responsabilizada.
A culpabilidade é normativa pura, porque não tem caráter subjetivo. Consiste em um juízo de reprovação social incidente sobre a conduta do agente imputável que, tendo potencial consciência do ilícito, decide praticar o fato típico e antijurídico.
ResponderExcluirO dolo, que tem a intencionalidade (elemento volitivo) e a previsão do resultado (elemento intelectual) como seus componentes, foi deslocado da culpabilidade para a tipicidade do delito.
Assim, com lastro na teoria finalista da ação, adotada pelo Código Penal vigente, da culpabilidade foram suprimidos os elementos psicológicos (dolo e culpa) e mantidos somente os seus elementos de natureza normativa: imputabilidade; potencial consciência sobre a ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
Paula L.
O crime é composto por fato típico, ilícito e culpável.
ResponderExcluirUm agente é culpável quando ele é imputável e possui consciência de agir.
Quando o agente é inimputável (menor de 18 anos ou em situações de inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato); quando não possui consciência de agir (abarca erros de tipo, de proibição); ou estando amparado por excludentes de culpabilidade (exercício regular de direito, cumprimento de ordem não manifestamente ilegal ou coação moral irresistível), não haverá culpabilidade, e por extensão, não se configurará o elemento caracterizador do crime.
Pode-se inferir, portanto, que a culpabilidade é normativa pura pois essa é auferida através das normas expressas no Código Penal, que servem de balizas ao julgador.
Para a teoria analítica do crime, este se caracteriza quando a conduta é típica, ilícita e culpável. Estende-se que a culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta analisada no caso concreto.
ResponderExcluirPode-se auferir que a culpabilidade passou por algumas fases em relação a sua estrutura, chegando-se à atual, qual seja, a teoria da normatividade pura.
Apenas a título de debate, e de forma resumida, anteriormente foram adotadas as teorias da culpabilidade psicológica (dolo e culpa como elementos da culpabilidade) e psicológica normativa (além da característica elencada na anterior, acrescentou-se a exigibilidade de conduta diversa).
No caso da normativa pura, dolo e culpa migraram para a tipicidade (dolo natural) e a culpabilidade passou a ter os seguintes elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
Para fins de complementação, adota-se, aliado ao exposto, a teoria limitada da culpabilidade (diferenciação nas consequências jurídicas aplicadas ao erro sobre pressupostos fáticos nas descriminantes putativas - § 1 do art. 20 do CP).
O conceito analítico estabelece ser o crime composto por 3 substratos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Diante desse conceito, a análise do dolo, a depender da sua posição, acarretaria impactos jurídicos diversos. Para o fato típico, o Código Penal adotou a teoria finalista, que estabelece o dolo como um elemento da conduta, sendo que a vontade do agente, ou seja, o dolo natural, é aferida no primeiro substrato do crime. Assim, se diz que a culpabilidade é normativa pura visto que a esse substrato restará avaliar, de acordo com os critérios da norma (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), a necessidade de aplicação da sanção penal ao indivíduo. No âmbito da culpabilidade, não haverá, portanto, a análise do dolo natural.
ResponderExcluirInicialmente, no âmbito das teorias da conduta, a vertente causalista adotava uma concepção de culpabilidade psicológica, em uma visão analítica do crime na qual os elementos subjetivos somente eram analisados no terceiro substrato. Posteriormente, a teoria normativa-psicológica, da corrente neokantista, também analisa elementos normativos na culpabilidade, como a inexigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade.
ResponderExcluirA corrente finalista, adotada pelo Código Penal pátrio, em uma perspectiva evolutiva, somente afere elementos normativos na culpabilidade, em um juízo de reprovação social da conduta típica e ilícita. Por tal razão, é considerada normativa pura, com o advento de um terceiro elemento autônomo frente ao neocausalismo, qual seja, a potencial consciência da ilicitude. De acordo com Welzel, se a conduta penal é um comportamento humano voluntário de querer ou aceitar um resultado, é inconcebível uma análise apartada do elemento volitivo (dolo ou culpa) frente ao fato típico e seus demais elementos: nexo causal, resultado e tipicidade.
A culpabilidade é o juízo de reprovação sobre uma conduta criminosa (fato típico e antijurídico) e integra o conceito analítico de crime (fato típico + antijurídico + culpável), adotado nas teorias causalista e finalista tripartite do crime.
ResponderExcluirEntre as teorias desenvolvidas para explicar a culpabilidade, cita-se a teoria psicológica, vinculada À teoria causalista do crime. Para o causalismo, a conduta é o movimento corpóreo voluntário que causa efeitos no mundo externo, prescindindo qualquer finalidade por parte do agente. A finalidade (dolo ou culpa), que compõem o aspecto psicológico, estão alocadas na culpabilidade.
Inserida no dolo está a consciência da ilicitude, que é um elemento normativo (característica objetiva determinada pela norma), motivo pelo qual é chamado de dolo normativo ou “dolus malus”.
Posteriormente, desenvolveu-se a teoria psicológica-normativa que acrescenta outros dois elementos normativos à culpabilidade: imputabilidade e inexigibilidade de conduta diversa, os quais irão aferir, conforme o caso concreto, a possibilidade de o agente atuar conforme a lei e receber a pena.
Finalmente, a teoria normativa pura é vinculada à teoria finalidasta do crime, a qual prevê que o dolo e a culpa integram a conduta, dentro do fato típico (1º substrato do crime), sendo crime, portanto, o ato voluntário, realizado com um finalidade.
O dolo, ao ser retirado da culpabilidade, desprende-se da consciência da ilicitude, abandonando o aspecto normativo, e passa a ser chamado de dolo natural, neutro ou “dolus bonus”, não mais dolo normativo.
A culpabilidade, por sua vez, sem dolo e culpa (aspecto psicológico), permanece como juízo de reprovação englobando somente os aspectos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e consciência da ilicitude (que no finalista para a ser chamado de potencial, não mais real), motivo pelo qual passou a ser chamada de culpabilidade normativa pura.
De acordo com a teoria finalista, a culpabilidade consiste no juízo de reprovação de uma conduta típica e ilícita. Ao contrário de outras correntes teóricas, a exemplo da causalista ou neokantista, a teoria preconizada por Hans Welzel retirou os elementos psicológicos da culpabilidade, transferindo-os para o substrato da tipicidade.
ResponderExcluirÉ justamente por esse motivo que a culpabilidade passou a ser considerada normativa pura na teoria finalista, uma vez que não mais subsistem elementos psicológicos como o dolo ou a culpa em sua estrutura, mas apenas e tão somente elementos normativos.
Cumpre destacar, por fim, que a normatividade pura da culpabilidade é dividida em extremada e limitada, sendo que naquela todas as discriminantes putativas são tratadas como erro de proibição, enquanto nesta o erro sobre o fato é considerado erro de tipo, ao passo que o erro sobre a existência de excludente de ilicitude é tido como erro de proibição.
O sistema finalista, desenvolvido por Welzel, passou a alojar o dolo e a culpa no injusto, retirando-os da culpabilidade, ao contrário dos sistemas anteriores, e considerou na culpabilidade a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, adotando a teoria normativa pura na culpabilidade.
ResponderExcluirCom efeito, os elementos que dizem respeito ao fato se concentram no injusto, ao passo que se possuírem relação com o agente integrarão a culpabilidade.
Significa dizer que na culpabilidade não há mais elementos psicológicos, mas apenas normativos, ou seja, devem ser realizados juízos de valores ou censura, centrado nas características do agente e no seu livre arbítrio. Desse modo, uma pessoa apenas pode ser censurada se agiu com liberdade de escolha.
Assim, deve ser analisado o caso concreto com dados ontológicos, devendo o jurista observar as estruturas-reais, dentre elas o agir humano e o poder de agir de outra forma.
A teoria normativa pura surge com Hans Welzel no finalismo penal. É chamada desta forma porque os elementos psicológicos (dolo e culpa) que existem nas teorias psicológica e normativa da culpabilidade foram removidos para o fato típico, transferindo-os para o interior da conduta. Diferentemente do que ocorria nas teorias acima referidas, o dolo passa a ser natural (e não mais normativo - consciência fática e consciência normativa), uma vez que não há necessidade da consciência da ilicitude. Dessa forma, o dolo é transmitido para a conduta, deixando a consciência da ilicitude na culpabilidade. Cabe ressaltar, que no sistema clássico, a consciência da ilicitude que deveria estar efetivamente presente no caso concreto, passa a ser uma potencialidade, bastando que o agente tenha a possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato.
ResponderExcluirO crime, na sua concepção analítica, é fato típico, ilícito e culpável, sendo que a culpabilidade é conceituada como o juízo de reprovação daquele que praticou a conduta ilícita e típica. Ao longo do tempo, a culpabilidade teve sua concepção alterada pelos estudiosos da teoria do crime, sendo que, atualmente, adota-se a ideia de que a culpabilidade é normativa pura, decorrente da teoria finalista de Welzel. Essa mudança de concepção ocorre porque o elemento psicológico do dolo foi retirado da culpabilidade e colocado na tipicidade, de modo que restaram na culpabilidade apenas os elementos normativos, quais sejam, a potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa.
ResponderExcluirInicialmente, considerando o conceito analítico de crime, entende-se que os seus elementos são compostos de tipicidade, antijuridicidade (ou ilicitude) e culpabilidade. E assim, diferentemente das teorias causais clássicas e neoclássicas, quando foram adotadas, respectivamente, as teorias psicológica e psicológica normativa, no exame da culpabilidade, a teoria finalista, desenvolvida por Hans Welzel, retirou os elementos psicológicos, isto é, dolo e culpa, da culpabilidade, os quais passaram a ser integrados no exame da tipicidade.
ResponderExcluirEm razão disso, a culpabilidade restou estruturada por elementos normativos, tais quais, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e consciência potencial de ilicitude. E por ter sido esvaziado o aspecto psicológico, a culpabilidade, na teoria finalista, passou-se ser denominada de culpabilidade normativa pura.
Considerando a adoção da teoria tripartite, tem-se que culpabilidade é um dos elementos do crime, sendo os demais: fato típico e ilicitude. No tocante à culpabilidade, várias são as teorias que surgiram para tentar conceituá-la. Inicialmente, a teoria psicológica entendia a imputabilidade e o dolo e a culpa como integrantes da culpabilidade. Posteriormente, a teoria psicológico-normativa incluiu, além dos elementos acima, a exigibilidade de conduta diversa. Por sua vez, com o finalismo, adotou-se a teoria normativa pura, deslocando dolo e culpa, para o fato típico, passando a ser integrado pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Logo, tem-se que a culpabilidade normativa é pura, pois os “elementos psicológicos” deixaram de integrar a culpabilidade, passando a serem essencialmente normativos.
ResponderExcluirTomando por base um conceito analítico de crime, é possível afirmar que as teorias acerca da composição da culpabilidade foram diretamente influenciadas pela evolução daquelas inerentes à conduta e à alocação dos elementos subjetivos do referido conceito de crime.
ResponderExcluirPois bem. Com o avanço do finalismo penal de Hans Welzel, emergiu entre nós a chamada teoria normativa pura da culpabilidade. Isso porque, tal sistema ao transferir os elementos subjetivos (dolo e culpa) do terceiro substrato do crime (culpabilidade) para o primeiro (fato típico) acabou deixando-o tão somente com elementos normativos puros, quais sejam, a imputabilidade (vista não mais como pressuposto, mas como verdadeira elementar), a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, que ao se desgarrar do dolo, transformou-o de malus/normativo para bônus/natural.
Em que pese haver alguma discordância doutrinária, prevalece que o Brasil, ao aderir o finalismo penal em 1940, adotou a teoria normativa pura da culpabilidade, em sua vertente limitada, no que tange à análise das chamadas discriminantes putativas.
No desenvolvimento das teorias do crime, inicialmente, nas teorias clássica e neokantista, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, integrava a culpabilidade. No entanto, com o advento das teorias finalistas, a análise do dolo e da culpa foi deslocada para o fato típico, assim, a culpabilidade passou a ser integrada exclusivamente por elementos normativos, como a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa, por isso sendo denominada de normativa pura.
ResponderExcluirNa teoria do crime, a culpabilidade tem três marcos principais. Inicialmente, tinha-se que a culpabilidade era psicológica: relacionava-se com o elemento subjetivo do crime, ou seja, estava presente se o crime era doloso ou culposo.
ResponderExcluirEm um segundo momento, passou-se a adotar a teoria normativo-psicológica: há, aqui, o ingresso de elementos normativos da culpa – o Potencial Conhecimento da Ilicitude, a Exigibilidade de Conduta Diversa e a Imputabilidade do Agente.
Em terceiro momento, a partir de Welzel, tem-se que a culpabilidade é normativa pura. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal. Aqui, o elemento subjetivo do crime – dolo ou culpa – migram para a tipicidade, de modo que a culpabilidade só integra os seus elementos normativos supramencionados (por isso, é pura).
O crime é fato típico, ilícito e culpável, sendo a culpabilidade o seu terceiro substrato, a qual tem por requisitos a imputabilidade (idade do agente igual ou superior a 18 anos), a exigibilidade de conduta diversa (possibilidade de se exigir que o agente agisse em conformidade com o direito) e a potencial consciência da ilicitude (compreensão, pelo agente, da reprovabilidade de sua conduta).
ResponderExcluirNesta toada, diz-se que, no Brasil, a culpabilidade é normativa pura porque, para fins de definir se o agente é ou não culpável, o Código Penal fixou requisitos de caráter exclusivamente normativo, acima mencionados.
É que, como resultado da adoção da teoria finalista pelo ordenamento jurídico, o dolo natural, isto é, a consciência e a vontade dirigidas a um fim, não compõe a culpabilidade (terceiro substrato do crime), mas, sim, a dimensão subjetiva do primeiro substrato do crime: o fato típico, precisamente o elemento conduta (comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim).
Destarte, a culpabilidade é normativa pura porque não leva em conta a vontade do agente dirigida à prática de crime (fim ilícito).
A culpabilidade é normativa pura porque representa um juízo de reprovação fundada em normas jurídicas e não em elementos psicológicos do agente, tendo como expoente Hans Welzen com ideais finalistas.
ResponderExcluirPara a concepção normativa pura da culpabilidade a culpabilidade foi despida dos elementos psicológicos do agente, o dolo está na ação e não na culpabilidade, conferindo à culpabilidade um juízo valorativo posterior à constatação da conduta típica e ilícita, ou seja, a culpabilidade migrou para tipicidade.Nessa teoria, são três elementos, a saber: imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
Isto posto, a teoria normativa pura da culpabilidade limita a responsabilidade penal, protegendo o indivíduo contra punições arbitrárias reforçando o caráter garantista do poder punitivo estatal.
Sabe-se que, para a verificação de existência de um crime, deve-se analisar seus 3 substratos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Considerando a evolução doutrinária do Direito Penal, tem-se que, hoje, vigora a teoria finalista da conduta, segundo a qual, um crime decorre de uma conduta dirigida a um fim. Neste sentido, a análise do primeiro substrato (fato típico) deverá perquirir se houve dolo ou culpa, se houve resultado e se este tem nexo de causalidade com a conduta do agente, bem como o respectivo enquadramento típico. Em seguida, para aferição do segundo substrato (ilicitude), apenas se verifica se o comportamento do agente foi ou não justificado, ou seja, se há causas justificantes, conforme a teoria formal que atualmente se adota. Por derradeiro, quanto ao terceiro substrato do crime, a culpabilidade, em razão de todo o exposto, prevalece a teoria normativa pura, já que restam, dentro do seu âmbito de análise, apenas elementos normativos, quais sejam, a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, deixando elementos psicológicos, como a voluntariedade da ação ou omissão, consistentes no dolo e na culpa, para serem analisados somente quando da verificação do fato típico, em conformidade com a teoria finalista da conduta, supramencionada.
ResponderExcluirA culpabilidade normativa pura, adotada pelo finalismo de Hans Welzel, desloca dolo e culpa da culpabilidade para o fato típico. Assim, a culpabilidade passa a conter apenas elementos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude.
ResponderExcluirDiferencia-se das teorias psicológica (do causalismo) e psicológica normativa (do neokantismo).Em ambas, dolo e culparam analisadas na culpabilidade.
Na primeira, a culpabilidade se restringia à imputabilidade.
Na segunda, para além da imputabilidade, integravam a culpabilidade a exigibilidade de conduta diversa e a consciência atual da ilicitude, esta última como parte do chamado dolo normativo.
A culpabilidade normativa pura, adotada pelo finalismo de Hans Welzel, desloca dolo e culpa da culpabilidade para o fato típico. Assim, a culpabilidade passa a conter apenas elementos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude.
ResponderExcluirDiferencia-se das teorias psicológica (do causalismo) e psicológica normativa (do neokantismo).Em ambas, dolo e culparam analisadas na culpabilidade.
Na primeira, a culpabilidade se restringia à imputabilidade.
Na segunda, para além da imputabilidade, integravam a culpabilidade a exigibilidade de conduta diversa e a consciência atual da ilicitude, esta última como parte do chamado dolo normativo.
A partir da teria finalista, que foi adotada pelo Código Penal, diz-se que a culpabilidade é normativa pura, na medida em que o dolo e a culpa (elementos subjetivos), que antes integravam o seu conceito, foram deslocados para a tipicidade.
ResponderExcluirSob a égide das teorias clássica e neoclássica, que antecederam ao finalismo, a culpabilidade era dita normativo-psicológica, sendo formada, além de elementos normativos (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), por elementos subjetivos ou psicológicos (dolo e culpa).
Sendo assim, a culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, não mais requer que se incursione no âmbito subjetivo ou psicológico da conduta, bastando que sejam avaliados os referenciados aspectos objetivos ou normativos do agir.
A Teoria da Culpabilidade Normativa Pura é pautada no finalismo criado por Hans Welzel. Assim é chamada, porque os elementos psicológicos (dolo e culpa) que existiam nas teorias psicológica e psicológico-normativa da culpabilidade foram transferidos para o fato típico. Dessa forma, a culpabilidade se transforma em um juízo de reprovabilidade sobre a conduta.
ResponderExcluirCom efeito, há duas vertentes da teoria normativa pura. A variante extremada, em que as descriminantes putativas sempre caracterizam erro de proibição. Também, há a variante limitada, em que as descriminantes putativas podem caracterizar erro de proibição ou erro de tipo, a depender do caso. No Brasil, adota-se a teoria normativa pura limitada, conforme se depreende dos artigos 20 e 21 do Código Penal.
Na teoria clássica, a culpabilidade era chamada de psicológica (teoria psicológica), já que seu elemento era a imputabilidade e, dentro da qual, encontrava-se o dolo e a culpa. Desse modo, o elemento subjetivo da conduta integrava a culpabilidade.
ResponderExcluirPor sua vez, na teoria neoclássica, ao tipo penal foi incorporado elementos normativos, como especial fim de agir e na culpabilidade houve a inclusão do conhecimento da ilicitude e dolo e culpa (teoria psicológica-normativa), sendo a imputabilidade seu pressuposto.
Por fim, com a adesão da teoria finalista, dolo e culpa foram deslocados para a tipicidade e a culpabilidade ficou composta pela imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e o potencial conhecimento da ilicitude (teoria normativa).
Por isso, diz-se que a culpabilidade é normativa pura em razão de estar esvaziada de seus elementos psicológicos, o dolo e a culpa.
A culpabilidade, como um dos substratos do conceito analítico de crime, sofreu diversas mutações e foi se aperfeiçoando ao longo da história. Hoje, fala-se que a culpabilidade é normativa pura, porquanto composta de inimputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude, estando desprovida, portanto, de elementos de natureza subjetiva. Em outros termos, a composição do juízo de reprovação da conduta (culpabilidade) carece de elementos subjetivos, anímicos do agente, considerada a atual estrutura que a delineia, a par da adoção do sistema finalista de Welzel, que proporcionou a migração do dolo e da culpa para o fato típico, retirando-os da culpabilidade. Com essa migração, a culpabilidade, estruturalmente modificada e antes vista como psicológico-normativa na escola neoclássica, despiu-se da parte psicológica para tornar-se, então, apenas normativa.
ResponderExcluirA teoria clássica do crime define o crime como um fato típico, antijurídico e culpável, teoria esta adotada pelo código penal vigente.
ResponderExcluirA análise de culpabilidade depende da compreensão da sua evolução histórica e dos elementos que a compõem, dentre as teorias existentes há a teoria da culpabilidade normativa pura, inspirada no finalismo de Welzel, em que o dolo e a culpa migram para o fato típico. O código penal adota esta teoria, tendo os motivos pelo qual a culpabilidade é normativa pura se dar devido o dolo migrar para a tipicidade, e ser despido de consciência da ilicitude, passando a ser natural e, o conceito da culpabilidade passou a ser puramente normativo, sem nenhum conceito de ordem psicológica, tal como ocorre nas teorias psicológica da culpabilidade ou na psicológica normativa.
A culpabilidade, portanto, fica com os elementos da exigibilidade de conduta diversa, imputabilidade e consciência da ilicitude.
Conforme consabido, a tese adotada hodiernamente no Brasil no âmbito da teoria geral do crime é o finalismo penal, desenvolvida pelo jurista Hans Welzel. Tal teoria se diferencia das que a precederam, tal como a teoria causalista, por transportar elementos como o dolo para o âmbito da conduta, isolando a culpabilidade de elementos subjetivos, remanescendo o terceiro substrato do crime apenas com a análise da imputabilidade do agente, sua potencial consciência da ilicitude e da inexigibilidade de sua conduta diversa.
ResponderExcluirNesse contexto, diz-se que a culpabilidade representa, sob o viés finalista, apenas um juízo de reprovação da conduta típica e ilícita do agente, e é notadamente por representar exclusivamente um juízo de valor, despido de qualquer elemento psicológico, que se intitula a culpabilidade no finalismo como “normativa pura”.
No direito penal, a culpabilidade é o juízo de reprovação que se faz a conduta de uma agente, além de ser um dos elementos do crime, juntamente com a tipicidade e a ilicitude.
ResponderExcluirDesse modo, para explicar a culpabilidade existe diversas teorias: psicológica, psicológica normativa e finalmente a normativa pura, essa última é adotada pelo CP.
Nesse sentido, a teoria normativa pura possui esse conceito porque ela é baseada em normas e não apenas no vínculo psicológico entre o infrator e o crime. Ademais, essa teoria considera como elementos da culpabilidade a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Inicialmente,é imperioso mencionar que nas primeiras teorias descritivas do crime, a saber: teorias clássica dividiu o fato criminoso em 3 componentes,logo, para ser considerado crime o ato deveria ser um fato típico, antijurídico e culpável, no requisito culpabilidade havia os componentes da culpa e dolo, também chamados de elementos volitivos, ora que se relacionam com os elementos psicológicos do autor no momento da ação ou omissão criminosa, entretanto, com o advento das novas escolas do direito penal passou se a pensar que tais elementos psicológicos (dolo e culpa) deveriam estar vinculados a tipicidade do fato criminoso, então a culpabilidade passou a ser formada apenas por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa, portanto elementos que estão explicitamente descritos na norma logo a culpabilidade tornou-se dogmática pura
ResponderExcluir