Olá meus amigos tudo bem? Eduardo com a nossa SUPERQUARTA.
Lembro que a Superquarta é totalmente grátis e por aqui já passaram centenas (talvez milhares de aprovados). Então, mesmo tendo dificuldade em um dia ou outro, insistam, continuem no projeto, pois no final fará toda diferença.
Lembrando que a Superquarta é totalmente grátis, então de fato não custa nada participar e os benefícios são imensos. Por aqui já passaram centenas, talvez milhares de aprovados. Então participem sempre que possível.
A questão dessa semana foi a seguinte:
SUPERQUARTA 03/2025 - DIREITO ADMINISTRATIVO -
EM TEMA DE ATOS ADMINISTRATIVOS, QUAIS OS EFEITOS JURÍDICOS DO SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?
Responder nos comentários em fonte times 12, limite de 12 linhas de computador. Permitida a consulta na lei seca. Responder até 04/02/2025.
Era uma resposta curta e o que eu esperava: que o aluno tratasse da regra, de que o silêncio como regra não é um ato administrativo, mas também que trouxesse casos em que o silêncio da Administração produz algum efeito.
Dica: sempre que algo tiver regra e depois exceções, cite primeiro a regra e em seguida traga as exceções, nessa ordem.
Há algumas semanas em que eu entendo que ninguém tiraria a nota 10, e então monto a resposta a partir dos melhores, unindo várias respostas. Hoje é um desses dias. Vamos lá:
Como se sabe, ato administrativo é a declaração unilateral de vontade da Administração devendo ser praticado de forma escrita. Por sua vez, o silêncio administrativo, em regra, não é um ato, mas um fato administrativo, dada a ausência de manifestação de vontade.
Nesse sentido, inexistindo previsão legal específica, não será possível conceber qualquer efeito ao silêncio, de forma que caberá ao interessado buscar, judicialmente, a manifestação de vontade da Administração. Nos atos vinculados, o Poder Judiciário pode suprir a vontade administrativa (concedendo ou negando o direito). Já, nos atos discricionários, o julgador deverá apenas determinar que ele se manifeste acerca do requerimento, não podendo suprir o silêncio em regra.
Entretanto há situações em que o silêncio da Administração pode assumir natureza jurídica de ato, e não apenas de fato jurídico, desde que haja previsão legal e consequências jurídicas para a omissão previstas em lei (princípio da legalidade). Sob essa perspectiva, se o ordenamento jurídico estipular de antemão quais são os efeitos cabíveis para a omissão estatal, tem-se na espécie um deferimento ou indeferimento tácito do pedido, denominados respectivamente de silêncio positivo ou negativo. Cita-se como exemplo de caso em que o silêncio pode ser tido por manifestação de vontade a não aprovação do projeto de parcelamento urbano (art. 16 da Lei 6.766/79).
Dica: uma resposta de 12 linhas é ideal que o aluno faça em três parágrafos.
Dica: sempre que possível, em questões como essa, cite um exemplo pelo menos. Isso faz a diferença.
Dica: traga primeiro a regra e depois as exceções. Fazer esse paralelo é super importante para segunda fase.
Minha percepção:
O mais difícil que eu achei nessa questão foi compilar todas as informações substanciais em poucas linhas. Foi dificílimo construir a resposta acima, que julgo completa, em poucas linhas.
Muitas respostas ficaram boas, parabéns a todos, mas eu queria uma resposta perfeita onde o aluno pudesse ter em um único texto 100% do que precisa para tirar 10 em uma discursiva ou oral com esse tema, por isso montei a resposta acima. Certo amigos?
Vamos para a SUPERQUARTA 04/2025 - DIREITO CIVIL/CONSTITUCIONAL/PENAL -
CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO PENAL, BEM COMO OS PRECEDENTES DO STF, DISCORRA SOBRE O DIREITO AO ESQUECIMENTO, RELACIONANDO NO MÍNIMO COM LIBERDADE DE IMPRENSA E REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS.
Responder nos comentários em fonte times 12, limite de 20 linhas de computador. Permitida a consulta na lei seca. Responder até 11/02/2025.
Eduardo, em 5/2/25
No instagram @eduardorgoncalves



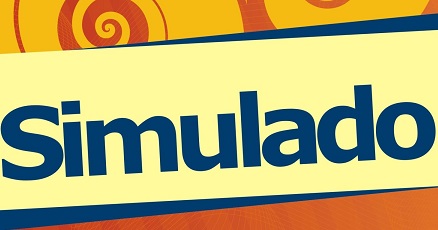
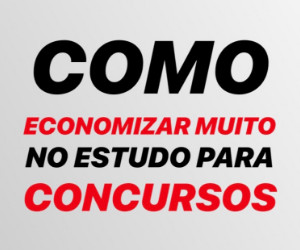

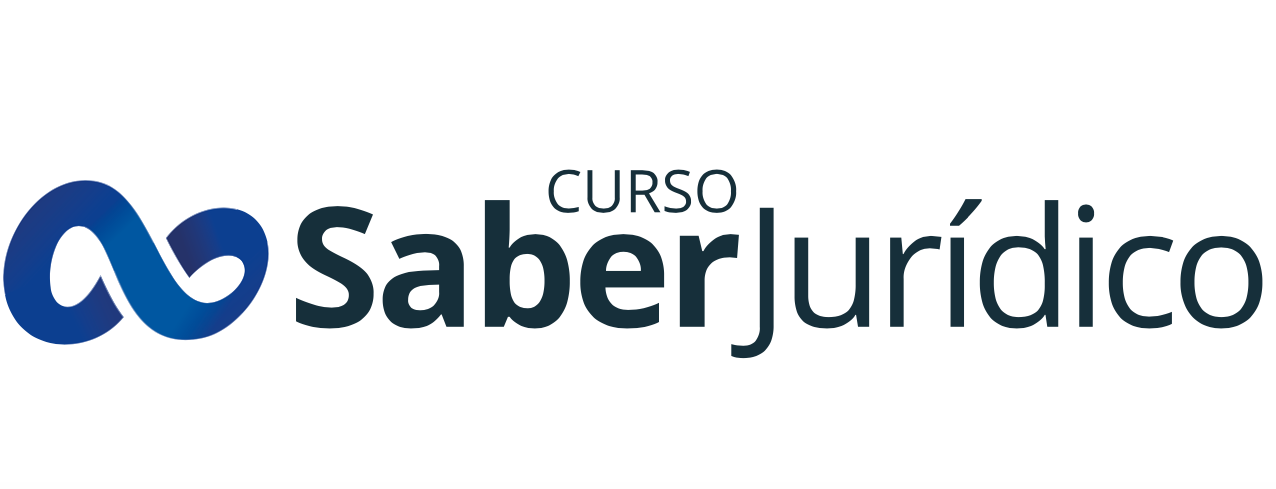
O direito ao esquecimento é caracterizado como a pretensão do titular de ver afastados do acesso público fatos pretéritos da sua vida que se gostaria fossem esquecidos. Com isso, haveria asseguração de sigilo a fatos que desabonassem a imagem de quem pretendesse o esquecimento.
ResponderExcluirA defesa de um direito ao esquecimento está calcada, dentre outros, na inviolabilidade da honra e imagem das pessoas, inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, na vedação a penas de caráter perpétuo, alínea c do inciso XLVII do artigo 5ºda Constituição, na proteção do nome à publicações que exponham ao desprezo público, artigo 17 do Código Civil, e na reabilitação criminal, artigo 93 do Código Penal, que assegura o condenado sigilo a respeito do processo e da condenação cumprida.
O Supremo, no entanto, em ponderação de valores, compreendeu que a tutela do direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição de 1988. A razão para tanto foi o fato de que a jurisprudência da Corte já vinha reconhecendo, faz-se ênfase à ADPF 130 que afirmou não recepcionada a Lei da Imprensa, a asseguração do direito à informação livre e verdadeira em detrimento de sua ocultação. Com isso, para evitar censura prévia, resguardou-se o direito a informar.
No entanto, essa liberdade de imprensa é relacionado apenas à informação, não alcançando o julgamento valorativo por fatos pretéritos. Isso significa, especialmente no que tange a registros criminais pretéritos, que não podem ser utilizados esses fatos para desabonar a personalidade da pessoa, titular ainda de seu direito à honra e ao nome.
O direito ao esquecimento constitui importação da doutrina estadunidense (“right to be let alone”) e consiste na ideia de que o indivíduo possui o direito de não ser molestado por registros e publicações a seu respeito, ainda que verdadeiras, desabonadores à sua reputação e que aconteceram em tempo longínquo.
ResponderExcluirNo Brasil, o direito ao esquecimento foi abordado inicialmente no Direito Penal, havendo precedentes do STJ e do STF no sentido de reconhecê-lo a fim de que não seja possível a valoração negativa de registros criminais muito antigos na dosimetria da pena, mais precisamente, na circunstância judicial relativa aos antecedentes.
Além disso, o referido direito também permeou a esfera cível em casos tratados pelo STJ, a exemplo do Caso Aida Cury, em que familiares desta pleitearam a proibição de publicações a seu respeito, alegando, como fundamento, os arts. 12, 20 e 21, do Código Civil, com vistas a resguardar a sua memória e intimidade.
Por fim, a discussão a respeito da existência de um direito ao esquecimento foi levada até o STF por meio de recurso extraordinário, oportunidade em que se fixou tese com repercussão geral no sentido da incompatibilidade do citado direito com o ordenamento jurídico brasileiro sob pena de censura prévia. Na tese fixada, privilegiou-se a liberdade de imprensa (art. 200 da CF/88) em face de interesses particulares e definiu-se que informações verdadeiras e licitamente obtidas por veículos jornalísticos poderão ser livremente publicadas, resguardado o direito do particular que se sinta ofendido a, posteriormente, buscar a indenização cabível.
Conforme conceituado pelo STF, o direito ao esquecimento consiste na pretensão de impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, que, em razão do decurso do tempo, tornaram-se descontextualizados. Sob esta perspectiva, o STF ao julgar sob o rito de repercussão geral, firmou o tema 786, em que aduz que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, pois caracteriza restrição excessiva e peremptória às liberdades de expressão, de impressa e o direito à informação. Aduziu que equivaleria atribuir maior peso aos direitos à imagem e à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão.
ResponderExcluirEntretanto, o STF, no mesmo julgamento, reforçou que o direito à liberdade de expressão e de imprensa não é absoluto, e em que pese o direto ao esquecimento seja incompatível com a CF, eventuais excessos e abusos devem ser analisados caso a caso, ponderando com à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e com as expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e cível. Cito por exemplo, o caso da Chacina de Candelária, em que o STJ, após o julgamento do STF, manteve no caso em concreto o direito ao esquecimento, por entender tratar-se de hipótese de abuso do direito da liberdade de expressão, nos exatos termos da segunda parte da tese firmada pelo STF.
Neste sentido, destaca-se que o Código Civil, em seu art. 21, destaca que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz poderá, a requerimento, adotar as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Já no âmbito penal, o art. 93 do Código Penal, prevê o instituto da reabilitação, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
A CF protege, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão e informação (art. 5º, IX e art. 220), a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e elenca como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X) – proteção essa existente também no CC, com teor similar (art. 20 e 21, com interpretação conforme, segundo ADI 4.815/DF).
ResponderExcluirNesse sentido, com base nestas últimas, defende-se o “direito ao esquecimento”, que seria a pretensão de impedir a divulgação de fatos ou dados licitamente obtidos em razão do decurso do tempo, que teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público, em contraposição às primeiras.
Contudo, neste confronto, entendeu o STF (tema 786) que tal tese seria incompatível com a CF, mas não desprovido totalmente de proteção, pois eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação deverão ser analisados casuisticamente, tutelados pelas normas civis e penais.
Porém, diferentemente do que julgado na esfera cível, na seara criminal o STF (tema 150) entendeu que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, I do CP). Nesse caso, pode o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento na pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime (art. 59 do CP), ensejando possível reconhecimento do “direito ao esquecimento”, consoante já tem aplicado o STJ em alguns casos.
Direito ao esquecimento, a despeito de ter sido aceito pelo STJ, não foi entendido como válido pelo STF. Neste sentido, apesar de a Constituição considerar como direito fundamental a vida privada (art. 5º, X), não se pode olvidar que a liberdade de informação (art. 5º, IV) e de imprensa (art. 5º, IX) também o são, o que demanda um exercício de ponderação em face de potenciais conflitos entre estes direitos.
ResponderExcluirOra, o STF entendeu que informações verdadeiras e licitamente obtidas não podem sofrer indevida repressão e censura sob o manto de um direito ao esquecimento. No caso, a mera passagem do tempo não inibe que as informações sejam novamente recuperadas no imaginário popular, sob pena de cerceamento à liberdade de expressão e violação do direito coletivo à informação. Ressalta-se que a liberdade deve ser exercida mediante uso de informações verdadeiras e licitamente obtidas, sob pena de cometimento de abusos.
Um caso emblemático julgado nos tribunais superiores foi o de Aída Curi, que foi vítima de violência sexual e homicídio nos anos 1950, tendo seu caso reexibido recentemente no programa Linha Direta, o que foi entendido como legítimo, considerado que o fato se revestiu de contornos históricos. Diversa seria situação de eventual pedido de desindexação, onde o Tribunal determinaria a retirada dos resultados da busca, dificultando o acesso desinteressado, mas sem impor retirada da notícia.
Não se olvida que há situações que a própria legislação traz, com contornos relativos, o direito ao esquecimento, como no caso da reabilitação penal (Art. 93, do CP), que dá direito ao sigilo do processo e da condenação. Todavia, não impediria que a imprensa eventualmente trouxesse o caso à tona.
O direito ao esquecimento é um tema controvertido. Para seus defensores, esse direito está previsto tanto no art. 1, III da Constituição quanto no art. 5, XLVII da Constituição. Assim, um indivíduo, para viver com dignidade na sociedade, não poderia ser eternamente penalizado por um erro que já cometeu, o que atrapalharia o seu convívio social. Para seus críticos, por outro lado, não há previsão legal para o direito ao esquecimento, e esse direito violaria o direito à memória, essencial para que a atribuição da responsabilidade das pessoas pelos seus atos.
ResponderExcluirNo Direito Civil, o direito ao esquecimento se relaciona com a liberdade de imprensa. Assim, uma matéria que verse sobre os atos pretéritos de uma pessoa não poderia ficar disponível por tempo ilimitado na internet. Não foi esse, contudo, o entendimento do STF, que decidiu que não se pode exigir que os buscadores de internet e a imprensa apaguem os registros antigos de atos desabonadores de determinada pessoa.
No Direito Penal, o direito ao esquecimento se relaciona com os registros criminais pretéritos. Assim, pela reabilitação criminal, transcorridos 2 (dois) anos do cumprimento da pena, o agente pode requerer a reabilitação para assegurar o sigilo do processo e da condenação (CP art. 93 e ss.). Por outro lado, esse direito pode ser relativizado pelo instituto da reincidência, que incide tanto na concessão de institutos despenalizadores (v.g., Sursis da pena – CP art. 77, I) como na 2ª fase da dosimetria da pena, em que os antecedentes podem ser utilizados como agravantes, no caso da reincidência, (CP art. 61, I). E, mesmo se o crime posterior seja cometido após o decurso do prazo de 5 anos do cumprimento da pena, esse registro pode ser utilizado como maus antecedentes, na 1ª fase de dosimetria, exasperando a pena base (CP art. 59).
O direito ao esquecimento consiste na possibilidade de impedir que a imprensa e as mídias em sentido geral, veiculem informações sobre fatos verídicos e licitamente obtidos em razão da passagem do tempo. A tese do direito ao esquecimento é normalmente suscitada na esfera penal, mas a ela não se limita, sendo igualmente vislumbrada em meio cível.
ResponderExcluirNo âmbito penal, os favoráveis ao referido direito alegam que a cobertura midiática nesses casos, priva o condenado do seu direito à ressocialização, relembrando a sociedade do delito praticado o que dificultaria o acesso ao mercado de trabalho, bem como, conferiria uma espécie de sanção perpétua ao sujeito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, sustenta-se que o direito ao esquecimento assegura a dignidade da pessoa humana, bem como o direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5º, X CRFB/88).
O STF examinou a referida questão em sede de repercussão geral e firmou entendimento no sentido de que não existe um direito ao esquecimento, justamente porque a CRFB/88 garante o direito à informação no art. 5º, XIV, bem como assegura a liberdade de imprensa nos arts 5º, IV e IX. Logo, não pode ser conferida espécie de censura aos meios de comunicação, impedindo que estes veiculem fatos concretos somente por mera irresignação do sujeito.No conflito de interesses ora mencionado prepondera a liberdade de expressão/imprensa, tendo o Pretório Excelso lhe atribuído maior peso.
Fica nítido, portanto, que é contrária à sistemática jurídica vigente a ideia de um direito ao esquecimento, sendo perfeitamente possível à imprensa, a transmissão dos registros criminais pretéritos do sujeito à população, sob o pretexto do direito à informação e no regular exercício da liberdade de imprensa. A referida transmissão não ensejará ao condenado/egresso do sistema penal direito à indenização pelo uso de sua imagem ou por eventuais danos por ele suportados , ressalvado os casos de abuso no exercício do aludido direito.
O direito ao esquecimento consiste na possibilidade de impedir que a imprensa e as mídias em sentido geral, veiculem informações sobre fatos verídicos e licitamente obtidos em razão da passagem do tempo. A tese do direito ao esquecimento é normalmente suscitada na esfera penal, mas a ela não se limita, sendo igualmente vislumbrada em meio cível.
ResponderExcluirNo âmbito penal, os favoráveis ao referido direito alegam que a cobertura midiática nesses casos, priva o condenado do seu direito à ressocialização, relembrando a sociedade do delito praticado o que dificultaria o acesso ao mercado de trabalho, bem como, conferiria uma espécie de sanção perpétua ao sujeito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, sustenta-se que o direito ao esquecimento assegura a dignidade da pessoa humana, bem como o direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5º, X CRFB/88).
O STF examinou a referida questão em sede de repercussão geral e firmou entendimento no sentido de que não existe um direito ao esquecimento, justamente porque a CRFB/88 garante o direito à informação no art. 5º, XIV, bem como assegura a liberdade de imprensa nos arts 5º, IV e IX. Logo, não pode ser conferida espécie de censura aos meios de comunicação, impedindo que estes veiculem fatos concretos somente por mera irresignação do sujeito.No conflito de interesses ora mencionado prepondera a liberdade de expressão/imprensa, tendo o Pretório Excelso lhe atribuído maior peso.
Fica nítido, portanto, que é contrária à sistemática jurídica vigente a ideia de um direito ao esquecimento, sendo perfeitamente possível à imprensa, a transmissão dos registros criminais pretéritos do sujeito à população, sob o pretexto do direito à informação e no regular exercício da liberdade de imprensa. A referida transmissão não ensejará ao condenado/egresso do sistema penal direito à indenização pelo uso de sua imagem ou por eventuais danos por ele suportados , ressalvado os casos de abuso no exercício do aludido direito.
O direito ao esquecimento se refere ao direito que a pessoa tem de ser esquecida pela sociedade e opinião pública, em decorrência de um acontecimento ou crime, em geral, estigmatizante. Trata-se de um direito da personalidade, que são aqueles ligados aos atributos fundamentais da pessoa, além de guardar íntima relação com a dignidade da pessoa humana, base da Constituição Federal.
ResponderExcluirApesar de ser considerado um direito da personalidade, o direito ao aquecimento foi considerado pelo Supremo Tribunal de Federal (STF) incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Em seu julgado paradigmático, a Suprema Corte realizou o sopesamento dos princípios da intimidade e da liberdade de expressão (e de imprensa), de forma que o último se mostrou preponderante no caso concreto. Tratou-se de um homem, acusado e condenado por crime, que tentava interditar judicialmente a transmissão do programa “Linha Direta”, da rede Globo, sob o argumento que a rememoração de seu passado criminoso obstaria sua reintegração na sociedade, vez que sua pena já tinha sido cumprida, mas o programa foi exibido. Ainda conforme a Corte, eventuais excessos causados pela imprensa deveriam ser analisados isoladamente, sem relação com o direito ao esquecimento.
O caso narrado e o argumento suscitado pelo autor guardam íntima relação com a teoria do etiquetamento (ou labelling aproach). Conforme esta teoria, o condenado que cumpriu sua pena carrega uma etiqueta de criminoso, dada pela sociedade, de forma que sua reintegração se torna tarefa ainda mais árdua. Em muitas ocasiões, o cometimento de crimes, após o cumprimento da pena, se dá justamente por essa etiqueta e estigmatização na sociedade.
Em que pese já reconhecido em precedentes do STJ, o STF, em repercussão geral, entendeu pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal, compreendido este como o direito de obstar, em razão da passagem do tempo, a veiculação de dados verídicos e licitamente obtidos, por meios de comunicação analógicos ou digitais, sem prejuízo de analisar eventual lesão a direitos fundamentais no caso concreto, em razão de abuso no seu exercício. Prevaleceu a liberdade de imprensa e livre manifestação (sobredireito) em detrimento de direitos da personalidade.
ResponderExcluirA discussão a respeito do direito ao esquecimento se dá em virtude de haver direitos fundamentais em conflito, como o direito à livre manifestação (art. 5º, IX, e art. 220, ambos da CF/88) e direito à intimidade, vida privada, imagem e honra (art. 5º, X, da CF/88 e arts. 17 e 20 do CC).
Ademais, é vedada a censura, pois incompatível com a plena liberdade de informação jornalística, inclusive como forme de proteger o direito à memória, sobretudo quando há interesse público ou social envolvido. Há o interesse da coletividade em conhecer a história. Todavia, o exercício da liberdade de imprensa não é absoluto ou ilimitado e pode ocasionar responsabilidade em caso de danos. Não se autoriza sua utilização para prática de atos preconceituosos e fins injuriosos, por exemplo.
Ressalta-se, porém, que o direito ao esquecimento já foi admitido para impedir a utilização de dados de registros criminais muito antigos para fins de influenciar na dosimetria da pena.
O direito ao esquecimento refere-se a possibilidade de obstar, pelo decurso do tempo, que fatos verídicos e obtidos por meios lícitos sejam novamente publicados ou divulgados. Nesse ponto, existe aparente conflito entre o direito à liberdade de expressão/informação (art. 5º, IV e XIV c/c art. 220, CF) e à privacidade, à honra e à intimidade.
ResponderExcluirDestarte, no âmbito penal, são inúmeros os casos divulgados pela imprensa que, dificilmente, serão esquecidos, e.g. caso do goleiro Bruno, o que colocaria à prova garantias como a vedação a penas perpétuas (XLVII, b, art. 5º), o que reflete na própria dignidade da pessoa humana. Por sua vez, o Código Civil expressamente consagrada a proteção aos direitos da personalidade (art. 12, CC).
Isto posto, foi no enfrentamento dessas questões que o Supremo decidiu, em sede de repercussão geral, que não há, no direito brasileiro, a possibilidade de invocar o esquecimento como direito fundamental limitador da liberdade de expressão e informação. Sendo assim, o direito ao esquecimento encontra limites no direito à verdade histórica e no princípio da solidariedade intergeracional.
Por fim, o STF considerou que eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão ou informação devem ser analisados caso a caso, utilizando-se dos parâmetros constitucionais para proteção da privacidade, intimidade e da honra.
O direito ao esquecimento consiste na possibilidade de, em razão da passagem de tempo, desvincular o nome e a imagem de uma pessoa a situações desabonadoras divulgadas a partir de dados verídicos e licitamente obtidos, como registros criminais pretéritos, por exemplo, que podem se transformar em penalidades vitalícias.
ResponderExcluirNo Código Penal há a previsão de que os condenados que já cumpriram pena têm direito ao sigilo da folha de antecedentes criminais e podem solicitar a exclusão dos registros da condenação e a reabilitação. Apesar disso, atualmente, o direito ao esquecimento não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois mesmo em face da proteção ao direito à vida privada, honra e privacidade, há o direito fundamental de liberdade de expressão, assim como liberdade de imprensa.
Dessa forma, este instituto torna-se incompatível com a Constituição Federal, porém, salutar destacar que excessos ou abusos devem ser rechaçados e analisados caso a caso, conforme requerimento do interessado, no contexto de inviolabilidade da vida privada (art. 21, do CC).
O direito ao esquecimento, conceito que surgiu na Alemanha, diz respeito à prerrogativa exercida por uma pessoa de que fatos que afrontem sua honra não sejam lembrados pelos meios de comunicação. Assim, seria possível a efetiva ressocialização, após o passar do tempo, não sendo sua figura marcada por fatos pretéritos cometidos por ela.
ResponderExcluirAo mesmo tempo que a CF assegura a liberdade de expressão (art. 5º, IX, da CF), determina serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF). Como é sabido, nenhum direito individual é absoluto, podendo ser relativizado em circunstâncias nas quais outros direitos devem ser amparados, realizando-se uma interpretação ponderativa no caso concreto.
Além da inviolabilidade constitucional da intimidade, o direito ao esquecimento, no âmbito brasileiro, encontra amparo na impossibilidade de se instituir penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, da CF), na garantia da inviolabilidade da vida privada (art. 21 do CC) e no instituto da reabilitação, que garante ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação quando adimplidos determinados requisitos (art. 93 do CP).
No entanto, o STF, dando maior relevância à liberdade de expressão, decidiu ser inconstitucional o amparo ao direito ao esquecimento. Eventual abuso deve ser averiguado no caso concreto, gerando indenização, direito de resposta e exclusão de publicações, se verificado que a exposição não foi razoável, principalmente tratando-se de direitos das crianças e adolescentes. O direito ao esquecimento não encontra base na CF, devendo prevalecer o direito à informação. Essa decisão encontra amparo em sentenças proferidas pela CIDH, que determina, habitualmente, a criação de monumentos para que determinados atos não sejam esquecidos.
A CF no art. 5º, IV assegura a liberdade de expressão. Em seu inciso V, assegura também o direito de resposta e no inciso X a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Tais direitos não são absolutos, podendo ser ponderados em caso de conflito, não sendo sacrificados totalmente em prevalência de outros.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento teria, a princípio, fundamento constitucional no mencionado art. 5º, X, CF/88. Este direito significa a prerrogativa de uma pessoa de não permitir que um fato de sua vida passada seja explorado por tempo ilimitado, seja pela imprensa ou pela sociedade, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
Na seara penal, o referido direito teria aplicação na impossibilidade de antecedentes criminais, ocorridos há muito tempo, sejam rememorados e explorados pela imprensa, com base na liberdade de informação. Ainda que a informação seja verídica, não seria possível sua exploração sem fim por parte da mídia. Com relação aos aspectos cíveis, o direito ao esquecimento abarcaria, por exemplo, o direito de pessoas que já foram famosas viverem anonimamente, seria um “direito a ser deixada em paz”.
Inicialmente, o STJ reconheceu o direito ao esquecimento, tutelando a dignidade da pessoa humana, tendo o indivíduo o direito de não ser lembrado. Posteriormente, o STF decidiu em repercussão geral que o direito ao esquecimento é incompatível com a CF/88. O poder de obstar a divulgação de fatos verídicos e obtidos de maneira lícita, apenas por conta do passar do tempo, viola o direito à informação e à liberdade de imprensa.
Eventuais excessos ou abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão devem ser sancionados nos âmbitos cível e penal, através da responsabilização do agente que as divulgou com abuso de direito.
O direito ao esquecimento consiste na faculdade de impedir a divulgação de um fato negativo pretérito, em razão da perda do interesse social e do potencial dano à dignidade da pessoa envolvida. No entanto, a matéria é complexa e envolve a ponderação de diversos direitos fundamentais.
ResponderExcluirO Supremo Tribunal Federal (STF), em importante julgamento, firmou o entendimento de que não existe um direito ao esquecimento propriamente dito no Brasil. O principal argumento utilizado foi a proteção aos direitos de acesso à informação e à liberdade de imprensa, previstos no artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal.
A decisão do STF, contudo, não encerra o debate sobre o tema. A Corte reconheceu a necessidade de analisar cada caso de forma individualizada, ponderando o interesse público na divulgação da informação e o direito à dignidade da pessoa humana.
A questão ganha contornos específicos quando se trata de crimes. Nesses casos, a divulgação de registros criminais antigos pode reacender a percepção negativa da sociedade sobre o indivíduo, dificultando sua reinserção social.
A jurisprudência tem oscilado na análise do tema. Algumas decisões autorizam a retirada automática da vinculação do nome do indivíduo a fatos negativos, exigindo que o interessado realize uma busca específica para acessar tais informações. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, entende que essa medida não configura direito ao esquecimento, mas mera desindexação de conteúdo.
A solução para o impasse depende da análise do caso concreto, sopesando o interesse público na divulgação da informação e o direito à dignidade do indivíduo. Em regra, havendo interesse público, a divulgação do conteúdo deve ser permitida, em atenção ao acesso à informação.
O direito ao esquecimento consiste na possibilidade de uma pessoa restringir ou excluir a divulgação de informações verídicas sobre seu passado, especialmente quando, com o decurso do tempo, essas informações perdem relevância e não há interesse público em sua exposição. Frequentemente associado a eventos traumáticos que causaram angústia e sofrimento, esse direito busca equilibrar a liberdade de expressão e informação com a proteção à privacidade e à dignidade da pessoa humana, impedindo a perpetuação de dados que possam gerar constrangimento ou prejuízo à sua reputação.
ResponderExcluirA Constituição Federal, no art. 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando indenização em caso de violação. Já o Código Civil, no art. 12, permite exigir a cessação de ameaças ou lesões a direitos da personalidade, além de reparação por danos sofridos.
No entanto, o STF, em sede de repercussão geral, decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, devendo eventuais abusos da liberdade de expressão ser analisados caso a caso.
No âmbito penal, registros criminais pretéritos são de interesse público e não podem ser removidos, salvo nos casos de reabilitação criminal previstos no art. 93 do Código Penal, cujo objetivo é reintegrar o condenado à sociedade. Ainda assim, o STJ reconhece que, em algumas situações, antecedentes muito antigos podem ser desconsiderados na dosimetria da pena, aplicando, de certa forma, o direito ao esquecimento.
O direito ao esquecimento consiste em impedir que acontecimentos pretéritos sejam revisitados a fim de proteger a intimidade do indivíduo que participou destes, sobretudo, em casos de condenações criminais, no intuito de concretizar a ressocialização.
ResponderExcluirTodavia, esse direito foi declarado inconstitucional pelo STF num julgamento em sede de repercussão geral. Após juízo de ponderação, prevaleceu o direito a liberdade de imprensa (art. 220, §2º, CF/88) e a liberdade de expressão (art. 5º, IV, CF/88) sobre a privacidade. A Corte entendeu que não se deve impedir os meios de comunicação de informar as pessoas, mormente, em relação a fatos verídicos que ocorreram no passado, sob pena de desrespeitar a memória do povo e enfraquecer a democracia.
Por sua vez, o art. 93 do Código Penal assegura o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação no caso de reabilitação. O indivíduo reabilitado é aquele que cumpriu sua condenação e está apto à reinserção social, sem pendências com a Justiça, tem o direito a ressocialização. Assim, a lei penal assegura tal sigilo no intuito de realizar o direito a reinserção social, o respeito à privacidade, sem que o indivíduo sofra estigmatização, mas não impede a mídia de reviver o acontecimento, ainda que sem acesso aos registros.
Por fim, o tema também encontra implicação no direito a alteração do nome e do gênero por pessoas trans. O STF em julgado anterior ao supracitado, também em sede de repercussão geral, garantiu o sigilo na alteração do nome e do gênero por pessoas transexuais, impossibilitando que a alteração conste nos registros públicos. Decisão que corrobora com a OC 24/2017 da Corte IDH que defende a confidencialidade da alteração. Salienta-se que na decisão pela inconstitucionalidade do direito ao esquecimento, não houve indicação de exceções.
Preliminarmente, destaca-se que o direito ao esquecimento visa a tutelar o direito à privacidade (inciso X do artigo 5º da Constituição Federal e artigo 21 do Código Civil) em relação a fatos pretéritos. Nesse sentido, argumenta-se que há um direito de limitar a liberdade de imprensa (inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal) quanto a fatos do passado de uma pessoa que não corresponderiam mais à manifestação de sua personalidade atualmente. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que não existe um direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo à tutela da privacidade e ao exercício do contraditório e da ampla defesa em casos de abuso do direito de informar.
ResponderExcluirEm âmbito criminal, o tema assume especial relevância, uma vez que os fatos delituosos praticados no passado são importantes para fins de reincidência (artigo 64 do Código Penal). Mais uma vez provocado a se manifestar sobre o tema, o STF afirmou que, para efeito de reincidência, prevalecem apenas as condenações anteriores, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, ocorrer o período depurador de cinco anos. Ultrapassado o prazo quinquenal, as condenações deverão ser consideradas pelo juiz a título de maus antecedentes (artigo 59 do Código Penal). Não obstante a inexistência de um direito ao esquecimento, o STF afirmou que o magistrado pode desconsiderar os maus antecedentes, quando observar extenso lapso temporal entre a condenação anterior e os fatos analisados no processo presente.
O direito ao esquecimento se traduz na possibilidade de obstar, em razão do decurso do tempo, a divulgação de fatos que possam ser considerados lesivos a honra e/ou a imagem de alguém.
ResponderExcluirOcorre que esses direitos são decorrentes dos direitos fundamentais à imagem, privacidade, intimidade e a honra (art. 5, X, CF), por vezes entram em conflito com os direitos de liberdade de expressão e de manifestação (art. 5, IV e IX, CF) e com a regra que proíbe a censura (art. 220, §2, CF). Nesse tipo de conflito, por não existir direito fundamental absoluto (Teoria relativa), o juiz deve fazer uma ponderação entre os interesses postos em litígio, devendo o intérprete, em razão do princípio do efeito integrador, buscar uma solução que revele maior integridade das normas constitucionais.
Nesse viés, o STF entende que a liberdade de expressão goza de posição de preferência, assim, entendeu-se que é incompatível com a CF/88 o chamado direito ao esquecimento, sem prejuízo de eventual reparação de danos em caso de abuso de direito.
Inobstante a decisão do STF, o STJ tem admitido à aplicação desse direito em casos peculiares, como, por exemplo, para afastar antecedentes criminais ocorridos há muitos anos.
O direito ao esquecimento refere-se à possibilidade de uma pessoa em impedir a publicação ou divulgação de fatos verídicos, por ela praticados, nos meios de comunicação, quando tiver transcorrido significativo lapso temporal.
ResponderExcluirSobre o assunto, o STF julgou pela incompatibilidade, com a CF/88, do direito ao esquecimento, ao entender que não existiria na ordem constitucional um direito fundamental de se apagar o passado, impedindo as novas gerações de conhecerem sua história, como, por exemplo, impedir a publicação de agentes nazistas e dos crimes contra a humanidade que cometeram.
Com efeito, não há, a priori, uma ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), à intimidade e à vida privada do indivíduo (art. 5º X, CF) que é citado nos meios de comunicação pela prática de um ato verdadeiro, afinal, não se deturpou ou se pleiteou ilaquear o público com a informação.
Outrossim, não se pode conceber que tais direitos possam prevalecer sobre os direitos à liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF) e publicidade (art. 5º, XIV e LX, CF), tão caros à Democracia e ao regime republicano.
Não obstante, a incompatibilidade do direito ao esquecimento também não se evidencia como uma pena perpétua, vedada pela Carta Magna (art. 5º, XLVII, “b”, CF).
No mais, verificando-se, no caso concreto, que houve publicação vexatória ou humilhante do meio de comunicação, a este indivíduo restará o direito à indenização, consoante art. 5º, V, da CF/88.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) garante em seu artigo 5° direitos fundamentais ao indivíduo, entre os quais o direito à vida privada com tudo o que nela puder implicar como corolário da dignidade da pessoa humana, fundamento de nossa República.
ResponderExcluirOutro direito elevado à categoria de direito fundamental é o direito à informação, que por sua vez assegura a liberdade de imprensa, no intuito de manter a sociedade a par de fatos relevantes e de interesse público. Não raro, o direito à vida privada se contrapõe ao direito de informação, principalmente quando aquele estiver ligado à exposição de acontecimentos ligados à historia de vida do indivíduo.
É nessa seara de embates entre o direito fundamental à vida privada e à liberdade de informação que toma corpo e sentido o tema do direito ao esquecimento. Esse instituto jurídico constitui-se no direito de não mais ter sua vida e intimidades perturbadas por fatos pessoais pretéritos.
O Supremo Tribunal Federal (STF) se deparou com essa temática em um caso concreto envolvendo fatos criminosos, em que se pleiteava esse direito ao esquecimento. O STF, usando da técnica da ponderação de valores, decidiu por não haver em tese um direito ao esquecimento que viesse a impedir que registros criminais pretéritos fossem usados por fontes informativas para divulgar fatos históricos verídicos de interesse social. Ressalvando que o não direito ao esquecimento não pode ser usado de forma desproporcional causando constrangimentos desnecessários e prejudicando a imagem do indivíduo, sob pena de responsabilização civil e penal.
Direito ao esquecimento é o direito de não ter um fato da vida, ainda que verídico, reiteradamente relembrado pela sociedade, causando-lhe sofrimento ou prejuízos.
ResponderExcluirEm sede de repercussão geral, o STF definiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Trata-se um conflito entre o interesse público e o privado, sendo necessária a ponderação do direito ao esquecimento, que tutela a intimidade e vida privada, com a liberdade de imprensa (art. 5º, IX, da CF). Portanto, conforme cada caso, é possível a responsabilização civil na hipótese de abusos e excessos na divulgação da informação.
Na seara civil, a passagem do tempo é insuficiente para obstar a realização ou manutenção de reportagens de fatos verídicos, ainda que sobre crimes cometidos há muitos anos. Por outro lado, o pedido de desindexação de conduta desabonadora nas pesquisas de site de busca é possível, pois altera apenas a vinculação dos termos negativos ao nome da pessoa, e não o conteúdo.
No âmbito penal, o art. 93 do Código Penal trata sobre a reabilitação e o direito do condenado em obter sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação após o 2 anos da extinção da pena. Assim como a tese do direito ao esquecimento, a finalidade é o encerramento da estigmatização por fato passado.
Em sentido diverso, as Cortes Superiores adotam o sistema da perpetuidade para maus antecedentes, de modo que esses registros pretéritos podem configurar maus antecedentes. Excepcionalmente, quando os registros são antigos e não relacionados com o crime atual, admite-se a aplicação do direito ao esquecimento e o afastamento no cômputo da pena.
O direito ao esquecimento é compreendido como a prerrogativa de obstar a divulgação de dados verídicos e licitamente obtidos em desfavor de determinada pessoa, em razão do longo lapso temporal já decorrido. Trata-se de instituto que visa resguardar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), bem como com os direitos fundamentais da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF), além da proteção aos direitos da personalidade (art. 21 do CC). Também na esfera penal, o sigilo dos registros sobre o processo e condenação criminal podem ser concedidos aos condenados que requererem e seja deferida a reabilitação (art. 93 do CP).
ResponderExcluirContudo, como evidente, referido direito representa um conflito com o direito à liberdade de expressão (art. 5º, VI, CF) e de imprensa (art. 5º, IX, CF), igualmente protegidos pelo constituinte. O debate ganha especial relevo no contexto atual, em que a internet e as redes sociais permitem, com poucos cliques e segundos, a obtenção de informações referentes a diversos fatos ocorridos há qualquer tempo, inclusive de registros criminais pretéritos.
Recentemente, o STF, em entendimento recente e vinculante e na linha contrária da então jurisprudência do STJ, firmou posição segundo a qual o direito ao esquecimento é incompatível com a ordem constitucional, ressaltando que eventuais excessos e abusos na liberdade de informação e imprensa devem ser apurados caso a caso.
Destarte, realizando-se um juízo de proporcionalidade, conclui-se que em se tratando de acontecimentos verídicos e licitamente obtidos, não seria possível limitar a divulgação e manifestação pública sobre tais fatos, ainda que decorridos há longo tempo, em razão da primazia do direito à liberdade de expressão neste caso.
O direito ao esquecimento consiste na prerrogativa que possui a pessoa natural em ver esquecidos da esfera pública, em face do decurso do tempo, determinados fatos sensíveis à sua honra e imagem, ainda que verídicos e licitamente obtidos, sendo consagrado pela doutrina mais moderna como um direito da personalidade, vinculado à intimidade, à vida privada e à dignidade da pessoa humana. Ao analisar a compatibilidade do instituto - de origem alemã - com o ordenamento jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexiste, no âmbito nacional, a possibilidade de sua aplicação. De acordo com a Suprema Corte, no conflito aparente que se instala entre a liberdade de expressão e os atributos da personalidade, tais como a intimidade, a honra e a vida privada, todos com assento constitucional, deve a primeira ser privilegiada, sem prejuízo do cabimento do exercício de tutela reparatória em caso de eventual excesso que provoque dano aos segundos; isso tudo porque a passagem do tempo não tem o condão de tornar ilícita ou restrita informação verdadeira, sob pena de configuração de censura prévia. Afora isso, a despeito de se entender, no campo penal, que o manejo do direito ao esquecimento contraria o interesse público, em razão da necessidade de se manter ao alcance do Estado informações relativas a prática de crimes, é certo também que o instituto da reabilitação possui contornos de tal instrumento, na medida em que prevê o Código de Processo Penal que condenações anteriores do sujeito reabilitado não constarão de sua folha de antecedentes criminais.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento é conceito jurídico que permite a exclusão ou desindexação de informações pretéritas, notadamente desabonadoras, sobre o indivíduo. Tem por objetivo proteger a privacidade do sujeito, de forma a “apagar” fatos e situações que possam ter efeitos negativos na sua reputação.
ResponderExcluirEm que pese não esteja expressamente previsto na Constituição Federal, no Código Civil ou no Código Penal, o direito ao esquecimento pode ser entendido como um desdobramento do direito à privacidade e à proteção da imagem e da honra das pessoas.
A necessidade de equilibrar o direito ao esquecimento com o direito à liberdade de expressão e com o direito à liberdade de informação foi objeto de discussão no STF. Ao julgar uma ADI sobre o tema, a Corte decidiu que, em regra, o ordenamento brasileiro não confere direito ao esquecimento aos indivíduos. A liberdade de expressão e de informação possuem prevalência, mormente quando se trata de informações de interesse público, se comparadas ao direito à proteção da imagem e da honra.
O entendimento é válido inclusive para condenações criminais pretéritas. Entendeu o STF que não há direito ao esquecimento com relação aos registros criminais do indivíduo condenado, devendo prevalecer o direito à informação, principalmente se o caso for de relevância social ou histórica.
Contudo, a Corte ressaltou que a vedação não é absoluta, de forma que há situações em que se admite o direito ao esquecimento. Nos casos em que a informação divulgada é excessiva, inverídica, desatualizada ou está criando impacto desproporcional na vida do indivíduo, ferindo o direito à privacidade, é possível que seja “esquecida”.
O direito ao esquecimento consiste no direito de um ou mais indivíduos não permitir que um fato ocorrido continue sendo exposto publicamente mesmo após o decurso de considerável lapso temporal.
ResponderExcluirAntes de o STF fixar, em sede de repercussão geral, tese informando que o direito ao esquecimento é incompatível com o ordenamento jurídico, por atribuir de forma absoluta em abstrato mais valor aos direitos à intimidade, à vida provada e à honra (art. 5º, X da CRFB e art. 21 do CC), afrontando, portanto, à liberdade de imprensa (art. 200 da CRFB) e o direito da coletividade à informação e à memória, houveram decisões do STJ reconhecendo a aplicação da tese do direito ao esquecimento e conferindo aos postulantes, compensações por danos morais decorrentes da propagação de informações acerca de si.
Atualmente, de acordo com o STF reconhecer a aplicação do direito ao esquecimento implica em tornar ilícita a propagação de uma informação verídica obtida licitamente. Para Corte, é necessário mitigar a proteção à vida privada em prol do direito à informação sobre fato de relevante interesse coletivo.
No âmbito criminal, a jurisprudência pátria consigna o entendimento de que, quanto aos fatos criminais pretéritos constantes na folha de maus antecedentes do indivíduo, adota-se o sistema da perpetuidade. Significa dizer, que tais anotações permanecem na folha de antecedentes do indivíduo, mesmo depois do decurso de determinado tempo, sendo, pois, legítimo o acesso público à tais informações, justamente porque são de relevante interesse coletivo e não se submetem à tese do direito ao esquecimento.
O direito do esquecimento é exercido por aquele que, em determinado momento da vida passou por um fato e em razão da passagem do tempo, possui o direito desse fato não ser exposto ao público, principalmente por veículo de impressa.
ResponderExcluirAqueles que defendem a aplicabilidade do instituto fundamentam que o direito do esquecimento possui previsão constitucional, em decorrência do direito à privacidade, honra, imagem e dignidade da pessoa humana.
Ocorre que, não é possível aplicar o direito ao esquecimento, visto que em razão da passagem do tempo o fato ocorrido que é verídico não se torna inverídico.
Assim, no ordenamento jurídico brasileiro o direito do esquecimento é incompatível pois contraria a liberdade de expressão e da impressa, devendo ser avaliado eventuais excessos a proteção da imagem e da personalidade. Caso contrário, o direito do esquecimento seria capaz de desaparecer ad aeternum dos registros de crimes verídicos.
Conceitua-se o direito ao esquecimento como a prerrogativa que estabelece ao titular o poder se exigir que determinados fatos passados não sejam objeto de indexadores nos sites de busca ou considerados em matérias jornalísticas ou sentenças judiciais.
ResponderExcluirNa seara civil, seria abrangido pelos direitos da personalidade na exata medida em que a pessoa teria direito de não ser constrangida com a lembrança de fato de seu passado remoto que vulneram sua intimidade e vida privada (art. 21 do CC) sendo exibidos em rede nacional de comunicação ou em periódicos de grande circulação. Contudo, já decidiu o STJ que neste conflito a liberdade de imprensa deve prevalecer.
Sobre o assunto, o STF, em análise sobre a ponderação entre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão e imprensa (art. 5, IV, V, IX, X, art. 220, §§1º e 2º), firmou entendimento no sentido de que a CF não acolhe a tese do direito ao esquecimento, sendo permitido a divulgação dos fatos, ressalvada a possibilidade de análise concreta da possível configuração de dano moral indenizável ou crime contra a honra do titular.
Ainda, verifica-se que em alguns julgados o STJ decidiu por aplicar a tese do direito ao esquecimento com relação a antecedentes criminais que aludem a fatos em passado remoto, salvo engano, registro levado a efeito há mais de vinte anos. Nesse sentido, analisando o direito a presunção de inocência e a finalidade de ressocialização da pena, entendeu pelo afastamento da circunstância judicial como antecedente criminal desfavorável.
O direito ao esquecimento pode ser definido como a hipótese de obstar, pelo passar do tempo, o direito de obter informações sobre fato pretérito prejudicial à pessoa. O STF se manifestou recentemente, em sede de Repercussão Geral, afirmando que não se compatibiliza com a Constituição Federal o referido direito, porém, em casos concretos é possível fazer a ponderação dos direitos envolvidos para, se for o caso, coibir abusos e punir infratores.
ResponderExcluirAdemais, decidiu que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade. Apesar da Constituição Federal prever a liberdade de expressão, também prevê ser cabível o direito de resposta, além de possível indenização por dano material, moral ou à imagem. Menciona-se, por oportuno, que o STF decidiu que empresas jornalísticas devem ser responsabilizadas quando transmitem fatos não verdadeiros quando tinham condições pretéritas de verificar a veracidade, além de ser ilícitas transmissões de ódio, de discriminação.
Em âmbito civil, é oportuno mencionar que, em que pese não se admitir o direito ao esquecimento sobre fatos pretéritos e impor aos provedores de aplicações de internet a exclusão de matérias, por vezes é permitido o direito a desindexação. Exemplo disso foi o decidido pelo STJ no caso de uma pessoa que postulou que, quando fosse pesquisado sobre seu nome isoladamente, não aparecesse de pronto o fato criminoso que respondeu; apesar de continuar na notícia os dados.
Em relação à registros criminais pretéritos, tem-se um desdobramento do direito ao esquecimento no que tange ao instituto da reincidência, eis que ultrapassado o prazo quinquenal sem nova condenação, a pessoa volta a ser tecnicamente primária, apesar de ter maus antecedentes; de outra banda, os tribunais superiores entendem que os maus antecedentes não se submetem à prazos, porém, é cabível ao magistrado desconsiderar como maus antecedentes fatos longínquos e que se mostram desinfluentes.
O direito ao esquecimento, entendido como o poder de obstar a veiculação de uma notícia verídica e licitamente obtida pela passagem do tempo, é um assunto que levanta controvérsias sobre sua aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico.
ResponderExcluirCom efeito, o STF entende que tal direito não foi consagrado, e que eventuais excessos devem ser analisados caso a caso.
Em relação à liberdade de imprensa (art. 5º, IV e 220, § 1º, da CRFB), considerando que o instituto do direito ao esquecimento guarda relação com o direito constitucional da intimidade, vida, honra e imagem (art. 5º, X, da CRFB), deve haver ponderação quando houve colisão entre eles, pois ambos estão positivados na Lei Maior.
Por sua vez, o STJ refere que, ao sopesar tais direitos, deve ser verificado se existe interesse público na divulgação da informação e, e caso positivo, não será possível a exclusão da notícia.
No que concerne aos registros criminais, o entendimento majoritário é de que os maus antecedentes observam o princípio da perpetuidade, ou seja, são considerados na dosimetria da pena ainda que decorridos vários anos, porém, recentemente, o STJ entendeu que uma condenação muito antiga não deve ser utilizada para aumentar a pena-base, utilizando o direito ao esquecimento como argumento.
Com o advento do Código Civil de 2002, buscou-se concretizar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais por meio do diálogo do Direito Civil-Constitucional. Assim, os direitos da personalidade, tais como, imagem da pessoa, reputação ao nome, divulgação de escritos e publicação na imprensa passaram a serem tutelados, também, pela Constituição Federal.
ResponderExcluirTodavia, o diploma privado, ao proteger os interesses pessoais da personalidade da pessoa, colide com as garantias fundamentais presentes na CF. Nesse sentido, o texto constitucional assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, em um primeiro momento, a liberdade de imprensa se sopesa aos direitos individuais da personalidade, inclusive com a discrição da fonte.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não limitou a liberdade de imprensa no direito ao esquecimento. Por vezes, este era usado contra matérias veiculadas na imprensa em que, após longo período, retornava-se à pauta. Nesse ínterim, o STF não acolheu a tese e a fundamentou no sentido que a matéria, no passado, respeitou os limites de informação, assim não poderia invocar o esquecimento para respeitar direito individual da personalidade sobre o interesse coletivo.
Por fim, ressalta-se que a liberdade de imprensa não é absoluto e, em caso de excessos ou informações levianas, pode gerar a responsabilidade criminal por ofensa à honra da pessoa, conforme previsto nos artigos 138 a 140 do Código Penal.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPara caracterizar o direito ao esquecimento é necessário entender o que é, ou seja, é o direito que uma pessoa possui de que um fato, ainda que seja pretérito, que ocorrera em sua vida não seja exposto.
ResponderExcluirPor essa lógica entendemos que diversas matérias são atacadas, sendo as principais, a Constituição, o Código Penal, Código Civil (faço extensão a Lei Geral de Proteção de Dados).
O tema chegou ao Supremo através do caso que à época passou no programa Linha Direta, da TV Globo. Ao ser instado a se manifestar, o plenário do STF firmou entendimento em Tema de Repercussão Geral 786, no sentido de que decorrido o lapso temporal, a divulgação dos fatos, mesmo com provas que comprovem a veracidade, sendo necessária a análise do caso concreto.
De igual forma, a liberdade de imprensa se correlaciona com o direito ao esquecimento. Diante ao alcance da imprensa, a inconstitucionalidade do ato em questão torna-se amplamente pertinente, sendo protegido o direito constitucional tutelado.
No art. 220 da Constituição Federal, vemos que este regula liberdade de imprensa foi objeto de amplo debate hodiero, devido a falta de limites em relação ao alcance das matérias jornalísticas, que por seu turno ultrapassavam o que dispõe o caput e §1º do art. em comento
Nesta senda, é possível observar como o direito ao esquecimento está ligado a liberdade de imprensa, em vista da singularidade que ambos apresentam diante o potencial lesivo e ataques a Constituição (direitos fundamentais) e as Leis que regulam as legalidades.
O direito ao esquecimento pode ser definido como a pretensão de ver excluídos fatos desabonadores à própria pessoa, que estejam registrados em banco de dados públicos/de interesse público ou forem divulgados pela imprensa, em decorrência da passagem do tempo.
ResponderExcluirVale salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ordem constitucional vigente não assegura o direito ao esquecimento, resguardando-se àquele que se sentir violado em sua honra ou imagem, em havendo excesso, o direito à reparação moral e material.
Para a Corte Suprema, em havendo colisão entre a liberdade de imprensa e o direito individual à imagem, o primeiro possui uma posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro (“preferer position’’), especialmente em situações que envolvam informações de interesse público ou social, dado o dever de resguardo ao direito à informação, que é de titularidade de toda a coletividade.
Não obstante isso, na esfera criminal, a existência de registros criminais pretéritos goza de limitação temporal para fins de reincidência, por conta do estabelecimento do período depurador de cinco anos (art. 64, I, CP). Por outro lado, sob a perspectiva dos maus antecedentes, não incide essa limitação, ficando à critério do julgador, sempre de forma fundamentada, com base nas particularidades do caso concreto, desconsiderar registros pretéritos demasiadamente antigos, sem relevância concreta para o caso a ser julgado.
No âmbito cível, por sua vez, há expressa limitação contida no Código de Defesa do Consumidor, que impossibilita a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por um período superior a cinco anos (art. 43, § 1°, CDC).
O direito ao esquecimento pode ser conceituado como o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimentos ou transtornos.
ResponderExcluirDe origem no Tribunal Constitucional Alemão, referida tese foi importada ao ordenamento jurídico pátrio por meio da doutrina, que a conceituava como um direito de personalidade (artigos 11 a 21, do CC), a ser sopesado e ponderado com o direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, previsto constitucionalmente (art. 220, caput, e §1º, da CF), bem como com o princípio democrático (art. 1º, CF) e o princípio da verdade e memória.
Nos Tribunais Superiores pátrios, o direito ao esquecimento foi, inicialmente, avaliado de acordo com o caso concreto, tendo sido reconhecido pelo STJ no famoso caso da “Chacina da Candelária” e, posteriormente, tendo sido refutado no caso “Ainda Curi”. Instado a se manifestar, o STF fixou tese negando, a priori, a existência de um direito ao esquecimento, por entender não haver violação ao direito de imagem e de privacidade dos indivíduos.
Por fim, salienta-se que a Constituição Federal veda a pena de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, “b”, da CF), razão pela qual prevê o Código Penal a reabilitação criminal (art. 93, CP). No ponto, o direito ao esquecimento funciona como tese a limitar o período depurador dos maus antecedentes, tendo o Superior Tribunal de Justiça já o reconhecimento para fins de afastar a análise desfavorável de registros da folha de antecedentes do réu, quando muito antigos (período superior a 5 – cinco – anos).
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o entendimento da inexistência de um direito ao esquecimento, de forma abstrata, com a capacidade de impedir a veiculação de fatos verídicos, ainda que ocorridos em um passado distante e envolvam fatos desabonadores. Esse tema envolve uma colisão de direitos fundamentais, na qual a Suprema Corte sopesou em prol da liberdade de imprensa enquanto meta direito.
ResponderExcluirComo suporte da decisão, o STF afirmou que conclusão contrária resultaria na proibida censura prévia, à luz do art. 220, caput e §2º, da Constituição Federal (CF/88). Nessa perspectiva, a livre manifestação de pensamento, observado o limite do anonimato (art. 5º, IV, CF/88), é um direito pressuposto para concretizar diversos princípios da Carta política: democrático e republicano (art. 1º, caput), da cidadania (art. 1º, II), assim como o direito de acesso à informação (art. 5º, XIV). Eventuais abusos no direito de informar, nessa lógica, devem ser aferidos posteriormente, com possíveis direitos de resposta e indenizações, de acordo com o art. 5º, V, da CF/88.
Não obstante essa prevalência jurisprudencial, há relevante corrente contrária, que defende um direito fundamental ao esquecimento. Tal posicionamento busca supedâneo na proporcionalidade da divulgação midiática, a qual possui limite frente à honra, à intimidade e à vida privada dos indivíduos, segundo art. 5º, X, da CF/88, relevantes direitos da personalidades também protegidos no art. 21, do Código Civil.
No âmbito penal, por fim, esse debate possui contornos peculiares. Enquanto a reincidência possui o lapso temporal de 5 anos como prazo depurador (art. 64, I, do CP), o STF é pacífico em refutar um espelhamento dessa disposição aos maus antecedentes, que podem ser agravantes na segunda fase dosimétrica independentemente do tempo decorrido da condenação. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, com base no direito ao esquecimento, admite uma distinção na hipótese do lapso temporal ser extremo, uma vez que se inadmite sanções de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, b, da CF/88).
Essa última resposta foi de Lucas Noguera: "O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o entendimento da inexistência de um direito ao esquecimento, de forma abstrata..."
ResponderExcluirO Direito ao Esquecimento é conceituado como o direito que os cidadãos têm de que fatos antigos não possam ser divulgados quando estes puderem ser desabonadores a algum titular de direito. Os que defendem a validade desta tese no ordenamento jurídico invocam o art. 20 do CC, o art. 93 do CP e o art. 5, inciso X da CF.
ResponderExcluirO Supremo Tribunal Federal entende que o Direito ao Esquecimento é inconstitucional. De acordo com a Corte, impedir a transmissão de eventos verídicos apenas sob o argumento de que houve a passagem do tempo contraria o direito fundamental à informação, à liberdade de imprensa e a proibição à censura prévia. Desta forma, apesar de os condenados criminalmente terem direito ao sigilo do processo com a reabilitação criminal, isto não impede que a imprensa divulgue informações que tenham tido acesso. Em todo caso, assiste aos ofendidos o direito de recorrer ao judiciário para buscar reparação pelo dano, caso tenha havido abuso de direito na divulgação das informações.
O Direito ao Esquecimento é conceituado como o direito que os cidadãos têm de que fatos antigos não possam ser divulgados quando estes puderem ser desabonadores a algum titular de direito. Os que defendem a validade desta tese no ordenamento jurídico invocam o art. 20 do CC, o art. 93 do CP e o art. 5, inciso X da CF.
ResponderExcluirO Supremo Tribunal Federal entende que o Direito ao Esquecimento é inconstitucional. De acordo com a Corte, impedir a transmissão de eventos verídicos apenas sob o argumento de que houve a passagem do tempo contraria o direito fundamental à informação, à liberdade de imprensa e a proibição à censura prévia. Desta forma, apesar de os condenados criminalmente terem direito ao sigilo do processo com a reabilitação criminal, isto não impede que a imprensa divulgue informações que tenham tido acesso. Em todo caso, assiste aos ofendidos o direito de recorrer ao judiciário para buscar reparação pelo dano, caso tenha havido abuso de direito na divulgação das informações.
O direito ao esquecimento consiste no direito que uma pessoa tem de impedir que determinado fato pretérito de sua vida seja exposto, sob o fundamento de lhe causar vergonha, dor ou constrangimento. Por uma pretensão individual, limita-se o exercício da liberdade de expressão.
ResponderExcluirNão é tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, eis que a Constituição Federal consagrou a liberdade de expressão como direito fundamental, devendo ser harmonizado com outros direitos de igual vergadura, como os de imagem, honra, nome. Os direitos fundamentais não são absolutos e situações de aparente colisão devem ser neutralizadas.
Em mais de uma oportunidade, a Corte Suprema foi instada a se posicionar sobre o direito ao esquecimento frente à liberdade de imprensa, especialmente no que tange às notícias relacionadas a registros criminais pretéritos e desabonadores, concluindo que, desde que respeitados parâmetros constitucionais, o mínimo comprometimento com a verdade, a proporcionalidade entre a relevância da notícia e o direito individual, a liberdade de expressão deve ser privilegiada. Considera-se que o desejo da pessoa de ter a sua imagem associada ao fato a ela atribuído não é motivo suficiente para limitar a vinculação da notícia, mesmo quando há o decurso do tempo. O interesse público no conhecimento do fato é superior. Situação diferenciada é aquela em que há um vício na associação da imagem ou nome da pessoa com a notícia, como na hipótese de homônimos.
Por fim, embora não seja possível um controle preventivo sobre a notícia, o controle posterior ou repressivo é garantido, seja através do direito de resposta pelo lesionado, ou mesmo do exercício da pretensão da responsabilidade civil por abuso de direito.
O direito ao esquecimento consiste no direito que uma pessoa tem de impedir que determinado fato pretérito de sua vida seja exposto, sob o fundamento de lhe causar vergonha, dor ou constrangimento. Por uma pretensão individual, limita-se o exercício da liberdade de expressão.
ResponderExcluirNão é tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, eis que a Constituição Federal consagrou a liberdade de expressão como direito fundamental, devendo ser harmonizado com outros direitos de igual vergadura, como os de imagem, honra, nome. Os direitos fundamentais não são absolutos e situações de aparente colisão devem ser neutralizadas.
Em mais de uma oportunidade, a Corte Suprema foi instada a se posicionar sobre o direito ao esquecimento frente à liberdade de imprensa, especialmente no que tange às notícias relacionadas a registros criminais pretéritos e desabonadores, concluindo que, desde que respeitados parâmetros constitucionais, o mínimo comprometimento com a verdade, a proporcionalidade entre a relevância da notícia e o direito individual, a liberdade de expressão deve ser privilegiada. Considera-se que o desejo da pessoa de ter a sua imagem associada ao fato a ela atribuído não é motivo suficiente para limitar a vinculação da notícia, mesmo quando há o decurso do tempo. O interesse público no conhecimento do fato é superior. Situação diferenciada é aquela em que há um vício na associação da imagem ou nome da pessoa com a notícia, como na hipótese de homônimos.
Por fim, embora não seja possível um controle preventivo sobre a notícia, o controle posterior ou repressivo é garantido, seja através do direito de resposta pelo lesionado, ou mesmo do exercício da pretensão da responsabilidade civil por abuso de direito.
A CF/88 prevê, em seu art. 5º, incisos IV e IX, os direitos fundamentais à liberdade de expressão e de imprensa que não são absolutos, devendo coexistir com outros valores por ela protegidos, a exemplo da inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X). Nesse linha, os arts. 12 e 20 do CC asseguram àqueles cujos direitos de personalidade foram violados a tutela inibitória, além da reparatória.
ResponderExcluirNesse contexto, começou a ser fomentada a tese do “direito ao esquecimento”, segundo a qual reportagens jornalísticas sobre fatos antigos desabonadores de determinado indivíduo poderiam ser excluídas. Argumentava-se que o decurso do tempo tornaria desnecessária a manutenção desses registros, violando, por outro lado, a honra, boa fama e respeitabilidade das pessoas.
Essa tese foi rechaçada pelo STF, que a julgou incompatível com o direito à liberdade de expressão. A mesma tese foi invocada para afastar a utilização de antecedentes criminais antigos na dosimetria da pena, sendo, nessa hipótese, acatada pelo STF para atender a vedação à perpetuidade da pena (art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88).
ResponderExcluirPreliminarmente cumpre conceituar o chamado “direito ao esquecimento” como a pretensão de se obstar a divulgação de informações verídicas e licitamente obtidas sob o argumento de que, em razão do decurso do tempo, teriam se tornado descontextualizadas ou isentas de relevante interesse público.
À luz do conceito apresentado, observa-se que o mencionado instituto põe em rota de colisão dois grandes princípios, o da liberdade de expressão, que contém a liberdade de imprensa, previsto no art. 5°, IV da CF, e o direito à privacidade e à imagem dos cidadãos, igualmente previsto na Carta Magna (art. 5°, X).
Nesse contexto, incitado a analisar a constitucionalidade da temática e utilizando-se da técnica de ponderação de princípios disseminada por Alexy, o STF sedimentou o entendimento de que o direito ao esquecimento não foi consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio. A Corte pontuou que a pretensão ao esquecimento denota uma desarrazoada limitação à liberdade de expressão e de imprensa, alijando os cidadãos brasileiros do direito de conhecerem fatos históricos, bem como frisou que existem mecanismos jurídicos suficientes, tal qual o direito à indenização previsto no art. 12, do CC, para coibir e reprimir eventuais excessos que resultem em danos aos direitos da personalidade de indivíduos objeto de notícias veiculados pela imprensa ou terceiros.
Conclui-se, contudo que, no âmbito penal, o STJ mantém o entendimento de que há direito ao esquecimento em caso de registros criminais notadamente antigos, o que obsta o seu reconhecimento como circunstância judicial negativa (maus antecedentes) apta a ensejar o aumento da pena base do agente.
Gabriel Z.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento surge no direito francês quando a corte constitucional o analisou pela primeira vez, contudo, ganhou notoriedade no direito alemão com o julgamento dos casos Lebach.
Conceitua-se como direito de uma pessoa em não permitir que determinado fato, ainda que verdadeiro, ocorrido em momento passado na sua vida, não seja exposto ao público geral, causando novos problemas. Parte da doutrina afirma que haveria previsão do direito ao esquecimento em nosso ordenamento jurídico através do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e dos direitos fundamentais do direito à vida privada, intimidade e honra (CF, art. 5º, X), bem assim pela previsão no art. 21 do CC.
Não obstante, é cediço que a matéria foi analisada e rechaçada pelo STF, pois na análise constitucional da proteção à imagem e direito à informação/liberdade de expressão, revelar-se-ia desproporcional atribuir maior valor a proteção individual em detrimento da coletividade. Ademais, pontuou-se que o mero noticiamento de fatos verídicos não confronta o ordenamento jurídico, pois abarcado pelo direito de liberdade de expressão, sendo cediço que o indivíduo não fica desprotegido, já que nossa norma protege contra eventuais excessos e informações inverídicas.
Por fim, também não possui aplicação para registros criminais, justamente em razão da necessidade de preservação da informação que atenda a coletividade, não se olvidando que há instrumento apto a assegurar o sigilo processual (a reabilitação), nos termos do art. 93 do CP.
Os direitos individuais que circundam o direito ao esquecimento, como intimidade, a vida privada e a manifestação do pensamento e de autor (art. 5º, IV, X, e XXVII da CRFB) não são absolutos devendo ser ponderados no caso concreto.
ResponderExcluirNa legislação civil, o direito ao esquecimento é afastado, permitindo que fatos pretéritos verdadeiros possam ser retratados em matérias jornalísticas pela imprensa, garantindo a sociedade o direito à informação, como exemplo citamos crimes cometidos há muito tempo que podem ser trazidos à baila, não possuindo seus autores direito ao esquecimento, como já decidido pelo STF. Neste caso, não é refutada a responsabilização civil caso haja abuso de direito à informação (art. 187 do CC).
Não diverge a situação de registros penais de autores de crimes, que após o período depurador da reincidência, continuarão a serem considerados como maus antecedentes, sendo irrelevante a passagem do tempo. Tais circunstancias poderão ser analisadas e sopesadas na análise da aplicação da pena (art. 59 do CP).
Em sentido oposto, ressaltamos que existem precedentes, afastando registros penais como maus antecedentes, quando no caso concreto, há um decurso de tempo longínquo, não havendo conexão alguma com o fato presente.
Bem como, lembramos, de julgado no Tribunal Superior quando foi concedida a possibilidade de em sites de buscas em sítios eletrônicos ser retirada palavras que levariam a aparição em primeira posição de pessoa que há muitos anos atrás cometeu fraudes. Esse mecanismo não impediu a busca, apenas realocou os resultados de buscas.
Os direitos individuais que circundam o direito ao esquecimento, como intimidade, a vida privada e a manifestação do pensamento e de autor (art. 5º, IV, X, e XXVII da CRFB) não são absolutos devendo ser ponderados no caso concreto.
ResponderExcluirNa legislação civil, o direito ao esquecimento é afastado, permitindo que fatos pretéritos verdadeiros possam ser retratados em matérias jornalísticas pela imprensa, garantindo a sociedade o direito à informação, como exemplo citamos crimes cometidos há muito tempo que podem ser trazidos à baila, não possuindo seus autores direito ao esquecimento, como já decidido pelo STF. Neste caso, não é refutada a responsabilização civil caso haja abuso de direito à informação (art. 187 do CC).
Não diverge a situação de registros penais de autores de crimes, que após o período depurador da reincidência, continuarão a serem considerados como maus antecedentes, sendo irrelevante a passagem do tempo. Tais circunstancias poderão ser analisadas e sopesadas na análise da aplicação da pena (art. 59 do CP).
Em sentido oposto, ressaltamos que existem precedentes, afastando registros penais como maus antecedentes, quando no caso concreto, há um decurso de tempo longínquo, não havendo conexão alguma com o fato presente.
Bem como, lembramos, de julgado no Tribunal Superior quando foi concedida a possibilidade de em sites de buscas em sítios eletrônicos ser retirada palavras que levariam a aparição em primeira posição de pessoa que há muitos anos atrás cometeu fraudes. Esse mecanismo não impediu a busca, apenas realocou os resultados de buscas.
Tema sempre presente e discutido em nossos Tribunais Superiores, o direito ao esquecimento pode ser definido como um direito fundamental atípico, consistente em cair no anonimato após certo período de tempo no que concerne a evento público e socialmente relevante, impedindo que tal fato seja reavivado após longo interim, causando prejuízo sociais ao cidadão que o busca.
ResponderExcluirTal direito fundamental se estruturou em norma do tipo princípio e, por não haver direito fundamental absoluto em nosso ordenamento, deve ser ponderado frente a outros princípios igualmente constitucionais, como é o caso, por exemplo, daquele referente à liberdade de imprensa e de informação.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) - em que pese algumas oscilações – parece ter solidificado um posicionamento (tal qual como manda o art. 927 do CPC/15), qual seja, de que não há no ordenamento pátrio um direito subjetivo apriorístico ao esquecimento no que se refere a fatos públicos notórios e de relevância social, permitindo assim que veículos midiáticos veiculem matérias jornalísticas que tratem de temas, ainda que longínquos, socialmente relevantes.
Em que pese o posicionamento do STF ter sido o narrado acima, tal forma de pensar se restringiu à temática cível, isso pois, em âmbito penal, a mencionada Corte, ao que parece, reconhece parcialmente o aludido direito de ser esquecido. Isso porque, em seus julgados recentes a Corte Suprema ao reafirmar a regra de que o princípio da temporariedade e o período depurador se limitam à reincidência e não aos maus antecedentes, também entendeu que, ainda que excepcionalmente, seria crível afastar crimes longínquos da dosimetria da pena do acusado, de forma que tais fatos cairiam no direito ao esquecimento, não podendo serem utilizados para fins de reincidência ou mesmo de maus antecedentes.
Define-se o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e obtidos licitamente, mas que em virtude da passagem do tempo se mostram desatualizados, descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante, e sua recordação caracteriza sofrimento ou transtornos.
ResponderExcluirSeu fundamento reside nos arts. 1º, III, e 5º, X, ambos da CF/88, por se tratar de um direito à vida privada, intimidade e honra do sujeito, bem como em decorrência da dignidade da pessoa humana. A grande celeuma é conciliar o direito ao esquecimento com a liberdade de informação e de imprensa. Nesse sentido, inicialmente, o STJ posicionava-se a favor da caracterização do direito ao esquecimento, afirmando que o sistema jurídico lhe protegia, mas não era absoluto, dependendo do caso concreto poderia ser relativizado.
No campo civil, o direito ao esquecimento também é um direito de personalidade, tanto que o CJF editou Enunciado nº 531, admitindo sua possibilidade em decorrência do art. 11 do CC. Já na esfera penal, partilhando de igual entendimento, existe precedente do STJ no sentido de que quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, admite-se afastamento de sua análise desfavorável, permitindo a aplicação da teoria do direito ao esquecimento.
No entanto, recentemente, o STF entendeu ser incompatível com a Constituição Federal o direito ao esquecimento, por violar a liberdade de expressão. Não há amparo na Magna Carta a justificar o direito de esquecimento, quando na verdade ensejar-se-ia uma restrição excessiva à liberdade de informação e manifestação. O eventual excesso ou abuso da liberdade de imprensa e informação, caracterizará reparação por ofensa à vida privada, à intimidade e à honra, a serem analisados no caso concreto nos âmbitos civil e penal.
O direito ao esquecimento caracteriza-se como o direito que uma pessoa tem de não mais ser vinculada, por comentários ou notícias, a um fato que tenha praticado no passado, e que lhe causa constrangimento.
ResponderExcluirO fundamento do direito ao esquecimento seria a inviolabilidade da honra e da imagem, conforme art. 5, inciso X, da CF, no entanto, o STF já decidiu que a CF não garante o direito ao esquecimento, tendo em vista que violaria a liberdade de imprensa e o direito a informação uma vez que haveria a divulgação de fato verdadeiro.
Com efeito, ainda que o fato se trate de um crime, não há direito ao esquecimento. O que o Código Penal assegura, é que não se considere reincidência quando decorridos mais de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (art. 64, inciso I, do CP). Contudo, ainda que não se considere reincidência, tais fatos podem ser considerados como antecedentes (art. 59 do CP).
O tema traz um conflito aparente entre proteção à personalidade considerando os aspectos de humanidade, intimidade, privacidade e honra, e a liberdade de informação. O direito ao esquecimento, também conhecido como “direito de ser deixado em paz” ou “direito de estar só”, é aquele em que uma pessoa tem o poder de impedir a divulgação ao público, de fato pretérito e verdadeiro a seu respeito por causar-lhe angústia e perturbação. Os defensores deste direito afirmam que possui assento Constitucional, na inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas e, legal, no Código Civil, igualmente na proteção da vida privada da pessoa natural. Na seara criminal a legislação garante aos condenados que já cumpriram pena o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação por meio do instituto da reabilitação, previsto no Código Penal e no Código de Processo Penal.
ResponderExcluirEsse direito já foi discutido na França, Alemanha e EUA. Atualmente passou a evidenciar-se por conta da internet, cujas notícias e informações se eternizam na rede mundial de computadores. No Brasil foi muito debatido no STJ, inclusive no Conselho da Justiça Federal que aprovou enunciado defendendo a existência do direito ao esquecimento como expressão da dignidade da pessoa humana.
De outro lado, o STF fixou tese de repercussão geral no sentido de que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Referido direito, afronta a preservação da história ou memória social, incorrendo em atentado à liberdade de expressão e de imprensa, não se podendo permitir a proteção à intimidade, imagem e privacidade de uma pessoa em detrimento do interesse público pela prática de um fato criminoso pretérito de grande repercussão coletiva, independente do tempo ocorrido. Apesar disso, em análise ao caso concreto, verificado o abuso no exercício da liberdade de expressão e informação, deve ser rechaçado segundo os parâmetros constitucionais, penais e cíveis quando violarem a intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, especialmente em contextos que envolvem registros criminais irrelevantes à memória coletiva, devendo prevalecer a proteção à personalidade.
O direito ao esquecimento é uma garantia constitucional relacionada à privacidade. No direito norte-americano, o mesmo se mostra presente na forma do "right do be alone", isto é, o direito de não ser incomodado.
ResponderExcluirTrazendo a temática para o âmbito civilista, temos a inerente relação com a liberdade de imprensa. Tema abordado na jurisprudência das cortes superiores em situações em que notícias passadas sobre fato constrangedor da vida de determinada figura pública era trazido à tona pela mídia após anos de esquecimento, causando reiterado sofrimento à família da vítima.
De outra monta, ora na seara penal, o mesmo se reflete quanto à incidência dos maus antecedentes na dosimetria da pena.
Embora já tenha havido o período depurador de cinco anos para a caracterização da reincidência em segunda fase de dosimetria, as condenações pretéritas ainda poderão ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase, segundo entendimento consolidado no STJ.
Direito ao esquecimento, também conhecido como o “direito de ser deixado em paz”, é o direito de um indivíduo de não permitir que um fato, mesmo verídico, ocorrido em determinada época de sua vida, seja veiculado ao público em geral, consequentemente, gerando sofrimentos ou transtornos, à própria pessoa ou aos seus familiares.
ResponderExcluirTal direito possui assento legal e constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, decorrendo do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo consequência, também, do direito à vida privada, intimidade e honra de um indivíduo, conforme art. 1º, inciso III, art. 5º, inciso X, ambos da CF/88 e art. 21 do Código Civil.
Outrossim, os conflitos que envolvem o direito ao esquecimento estão intimamente ligados ao seu equilíbrio com a liberdade de informação e expressão, tanto na seara da responsabilidade civil, quanto aos abalos que envolvem processos criminais, nesse caso, atuando como parcela da ressocialização do indivíduo. Isso porque, com o advento da internet, as notícias e informações são armazenadas e divulgadas de forma eterna, com disponibilização, de fácil acesso, quanto ao conteúdo e registros dos fatos.
Com efeito, a jurisprudência do STF ressalta os desafios no equilíbrio entre a proteção da privacidade e a aplicação do direito ao esquecimento, trazendo decisões que incompatibilizam esse direito com o ordenamento jurídico brasileiro e, noutro giro, admitindo sua aplicabilidade, como no caso dos registros criminais pretéritos, quando muito antigos, com fito de afastar o estigma do passado criminal, bem como a sua observação na divulgação de informações de caráter relevante para a sociedade.
Direito ao esquecimento, também conhecido como o “direito de ser deixado em paz”, é o direito de um indivíduo de não permitir que um fato, mesmo verídico, ocorrido em determinada época de sua vida, seja veiculado ao público em geral, consequentemente, gerando sofrimentos ou transtornos, à própria pessoa ou aos seus familiares.
ResponderExcluirTal direito possui assento legal e constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, decorrendo do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo consequência, também, do direito à vida privada, intimidade e honra de um indivíduo, conforme art. 1º, inciso III, art. 5º, inciso X, ambos da CF/88 e art. 21 do Código Civil.
Outrossim, os conflitos que envolvem o direito ao esquecimento estão intimamente ligados ao seu equilíbrio com a liberdade de informação e expressão, tanto na seara da responsabilidade civil, quanto aos abalos que envolvem processos criminais, nesse caso, atuando como parcela da ressocialização do indivíduo. Isso porque, com o advento da internet, as notícias e informações são armazenadas e divulgadas de forma eterna, com disponibilização, de fácil acesso, quanto ao conteúdo e registros dos fatos.
Com efeito, a jurisprudência do STF ressalta os desafios no equilíbrio entre a proteção da privacidade e a aplicação do direito ao esquecimento, trazendo decisões que incompatibilizam esse direito com o ordenamento jurídico brasileiro e, noutro giro, admitindo sua aplicabilidade, como no caso dos registros criminais pretéritos, quando muito antigos, com fito de afastar o estigma do passado criminal, bem como a sua observação na divulgação de informações de caráter relevante para a sociedade.
De acordo com o STF o direito ao esquecimento seria a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que em virtude da passagem do tempo teria se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante.
ResponderExcluirA CF/88 garante a liberdade de expressão, independente de censura ou licença, da mesma forma protegendo o direito daquele que se viu violado com a obrigação de indenizar em caso de dano a imagem ou honra, a veiculação de notícia verdadeira e lícita, a princípio não gera dano moral, devendo ser analisado no caso concreto o dano e o nexo causal.
Na seara penal o STF fixou tese no sentido de ser discricionário ao juiz sentenciante utilizar para exasperar a pena base os maus antecedentes, não se aplicando o prazo quinquenal do art. 64, I, do CP, devendo ser analisado a utilização ou não no caso concreto.
Por fim, é importante ressaltar que o direito ao esquecimento é incompatível com o nosso ordenamento jurídico e para o STF é necessário uma lei para regular tal direito de modo que não contrarie a liberdade de expressão.
A CF/88 assegura a liberdade de expressão no art. 5º, inciso IX, por outro lado, protege no mesmo artigo, no inciso X, a intimidade e a vida privada com previsão semelhante no CC, art. 21. Já o CP tipifica a conduta de violação de comunicações privadas no §3º do art. 154-A.
ResponderExcluirNesse sentido, o STF foi instado a se manifestar em razão do conflito entre a liberdade de expressão e a intimidade e vida privada, de modo que asseverou que, embora exista está proteção, a liberdade de expressão deve prevalecer garantindo a verdade quando relata casos notório e emblemáticos ocorridos, como no caso Daniela Perez e Guilherme de Pádua. O STF ressalta a importância do direito de liberdade que fora objeto por anos de censura e de sua importância em rememorar casos históricos para que uma nação não perca sua memória. Portanto, o direito ao esquecimento não tem amparo legal.
O direito ao esquecimento consiste no poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verdadeiros e publicados em meios de comunicação. O STF, no julgamento do Tema 786, estabeleceu que este é incompatível com a Constituição e que eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados individualmente. Assim, nos casos de matéria jornalística com caráter informativo e opinativo ou na exclusão de informações disponibilizadas na internet, entendeu-se pela inaplicabilidade do direito ao esquecimento, em respeito aos direitos da livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão e acesso à informação (art. 5º, IV, IX, XIV, CRFB/88).
ResponderExcluirJá no âmbito do direito penal, é sabido que há a possibilidade de valoração negativa, como maus antecedentes, das condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos. Ocorre que a jurisprudência do STJ já entendeu que em casos de antecedente criminal muito antigo, este deve ser desconsiderado, sendo aplicado o direito ao esquecimento.
Destaca-se, ainda, que após o cumprimento da pena e a reabilitação penal (art. 93 do Código Penal), há restrições no acesso aos dados, o que pode ser interpretado como uma referência do direito ao esquecimento. O mesmo vale para o Código Civil, no art. 20, que prevê a possibilidade de impedir a exposição de fatos se houver violação da honra ou privacidade, salvo interesse público.
A jurisprudência dos tribunais superiores era vacilante sobre o tema direito ao esquecimento. O STJ tinha entendimento no sentido de ser compatível com o ordenamento jurídico a tese do direito ao esquecimento. Entretanto, em julgamento realizado em 2021, o STF pacificou o tema e fixou a tese de que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Segundo a Corte, os direitos à liberdade de imprensa, liberdade de expressão e de informação prevalecem sobre os direitos à honra, à imagem, à privacidade e da personalidade, quando as informações, divulgadas em meios de comunicação social, forem verídicas e obtidas de forma lícita. Denota-se, na decisão do STF, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Para o STF, ainda que decorrido grande lapso temporal, é possível a veiculação de informações sobre a vida criminal pretérita da pessoa, desde que a publicação tenha cunho informativo e não vexatório. Por fim, vale mencionar que o Supremo Tribunal entendeu ser possível, a depender do caso, a fixação de indenização à pessoa lesada por excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento é pautado em uma teoria de que o indivíduo não pode ser eternamente punido por um ato que praticou, anteriormente, em sua vida. Tal discussão ganha relevância ao se referir a casos criminais de repercussão, em que o sujeito ativo, apesar de ter cumprido a sua punição penal estatal, permanece sendo vinculado ao erro do passado pela sociedade, sofrendo reprimendas extras estatais.
ResponderExcluirA CRFB firma que nenhuma pena será perpétua e, ao mesmo tempo, que é a livre a expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença. Neste sentido, o STF, empregando sopesamento de princípios constitucionais (afinal, não são absolutos) entendeu que o direito ao esquecimento não possui espaço na ordem jurídica brasileira.
O caso analisado pela Corte consistiu em uma ação impugnativa da veiculação por um programa “Linha Direta” - conhecido por reviver casos criminais famosos – de um episódio relativo a um crime bárbaro cometido. Para informar a narrativa editorial, o programa utilizou o recurso da simulação apelativa, por meio de atores, imputando aos autores da ação judicial a prática do crime.
Não obstante inexistentes o direito ao esquecimento e a censura prévia de conteúdos jornalísticos e artísticos, deve o ofendido, caso se entenda violado, ajuizar ação de indenização por danos morais. Ao apreciar, o Poder Judiciário analisará a intenção do violador e os limites da veiculação: se provida de cunho informativo ou difamante e excessiva, que ensejará o dever de indenizar.
A tese do direito ao esquecimento foi levantada perante o STF e defendia que fatos acontecidos há muito tempo não poderiam ser explorados pela mídia, pois feriria o direito da personalidade do envolvido ou de sua família (art. 20 CC).
ResponderExcluirAo julgar o caso envolvendo, no pronto central, a exploração midiática de um homicídio ocorrido no Rio de Janeiro na década de 1960, o STF, em 2021, firmou a tese de que o direito ao esquecimento não se encontra albergado na CF, acolhendo a tese de que ele seria superposto à liberdade de imprensa, art. 5º, IX da CF.
No mesmo sentido, a corte julgou o pedido da atriz e cantora Xuxa, que no início da carreira gravou filmes adultos. O STF entendeu pelo não acolhimento da tese do direito ao esquecimento e indeferiu os pedidos de que tais filmes fossem tirados de circulação.
No âmbito do direito penal, privilegiando a função da pena, ressocializando o condenado à vida em sociedade, o CP previu que a reincidência não prevalece se entre o primeiro e o segundo crime houver transcorrido mais de 5 anos (art. 64, I do CP). Previu também a reabilitação no art. 94 e seguintes, que pode ser requerido após 2 anos da extinção da punibilidade em caso de preenchimento dos requisitos do artigo supramencionado.
O primeiro caso mais conhecido, em que se exauriu o direito ao esquecimento foi na Corte Constitucional Alemã, através do caso “Lebach”, no qual em 1969, quatro soldados alemães foram assassinados em uma cidade no interior da Alemanha, chamada Lebach.
ResponderExcluirApós as apurações no processo, três réus foram condenados pela prática do crime, sendo que o terceiro condenado, após cumprir a sua pena integralmente, dias antes de deixar a prisão, ficou sabendo que uma emissora de TV iria exibir um programa especial sobre o crime, contendo fotos e inclusive argumentos de que o autor seria homossexual.
O fato chegou ao Tribunal Constitucional Alemão, que proferiu que a proteção constitucional da personalidade não admite que a imprensa explore, por tempo ilimitado, a pessoa do criminoso e a sua vida privada.
Logo, o direito ao esquecimento é tido como um instituto que permite ao indivíduo, titular da sua autonomia privada, a possibilidade de administrar quais dados sobre a sua personalidade podem ser divulgados nos meios de informação.
No Brasil, o direito ao esquecimento possui aparato constitucional, assegurado pelo art.5º, inciso x, através do direito à privacidade, intimidade e honra. O debate trazido por esse direito, envolve um conflito aparente entre a liberdade de expressão, informação e atributos individuais da pessoa humana, exauridos pelo direito da personalidade.
Os tribunais brasileiros fizeram a aplicação pela primeira vez da teoria do direito ao esquecimento, em dois casos, o caso Chacina da Candelária e Aída Curi. O caso da chacina da candelária, originou-se dentro do âmbito criminal, perpetuado por um fato ocorrido no rio de janeiro, em que o autor da demanda ingressou com uma ação contra uma emissora de TV, pelo uso indevido do seu nome associado ao crime, por entender que aquele fato repercutido afetava diretamente a vida privada, a segurança e o bem-estar.
No caso da Aída Curi, repercutido dentro da seara cível, envolveu uma violência seguida de morte da jovem Aída, que possuí 18 anos na década de 50, quando foi jogada de um prédio no bairro de Copacabana, rio de janeiro. No pedido da ação, alegou-se uma afronta aos direitos individuais, no que tange a divulgação irrestrita dos fatos pela mídia.
Não obstante, antes da Suprema Corte se manifestar sobre o tema, o STJ entendia que o sistema jurídico protegia o direito ao esquecimento, todavia não possuía caráter absoluto. Logo, em caso de evidente interesse social no cultivo à memória histórica, não era possível fazer o uso do direito ao esquecimento.
Posteriormente, o STF no tema 786 declarou que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, compreendido como, o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou virtuais.
No entanto, tramita na Câmara dos Deputados, o projeto de lei nº 4.418/2020, que consiste no direito ao esquecimento penal, baseado no direito de uma pessoa que foi condenada por um crime, não ser mais lembrada como criminosa após cumprir a pena e receber a reabilitação criminal.
E mais recentemente, houve a inclusão do direito ao esquecimento na reforma do novo Código Civil, dentro da sistemática do Direito Digital, como também da desindexação, que é uma forma de aplicação do direito ao esquecimento na internet, consistindo na remoção de links que direciona para informações indesejadas nos mecanismos de busca.
O direito ao esquecimento é invocado por quem mantém vinculação com fato ou ato jurídico, objetivando vê-lo cair no esquecimento da coletividade com fundamento na proteção de direitos de personalidade como a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem (arts. 5º, X, da CF e 12, 20 e 21, do CC).
ResponderExcluirPor certo, o direito ao esquecimento tenciona com importantes valores do Estado Democrático de Direito, a exemplo da liberdade de imprensa, a qual, por seu turno, é crucial no contexto da Constituição de 1988, editada após o fim da ditadura militar no Brasil. Assim, por constituírem meios de materialização do pluralismo político, a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão e de informação não podem sofrer censura prévia (arts. 1º, V, 5º, IV e 220, da CF).
Este, inclusive, foi o posicionamento adotado pelo STF em repercussão geral ao fincar que veículos de comunicação só serão responsabilizados por danos extrapatrimoniais posteriormente à veiculação de declarações caluniosas, injuriosas ou mentirosas e desde que, ao tempo da veiculação, houvesse indícios robustos da falsidade da informação, a fim de se resguardar o núcleo mínimo dos direitos de personalidade de intromissões ilícitas decorrentes do exercício irresponsável e abusivo da liberdade de imprensa.
Igualmente, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, que a CF não consagra o direito de obstar, em razão da passagem do tempo, a veiculação de informações verídicas, ainda que despertem memórias indesejadas e causem dor à família de vítima de crime, prevalecendo, em caos tais, a liberdade de imprensa.
Por fim, é de ver que condenações que não mais possam ser utilizadas para fins de reincidência, ainda configurarão maus antecedentes (art. 59, 63 e 64, do CP), por inexistir direito de não ser lembrado contra a própria vontade. Não obstante, diante de condenações muito antigas e das peculiaridades do caso concreto, o STJ tem flexibilizado tal regra e afastado os maus antecedentes.
O direito ao esquecimento é invocado por aquele que visa extirpar dos veículos de comunicação determinada notícia com a qual esteja relacionado. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao publicar Tema acerca da matéria, decidiu pela incompatibilidade de invocar-se tal direito frente à garantia constitucional da liberdade de expressão prevista no artigo 5º, inciso IX da CF/88.
ResponderExcluirA referida garantia Magna também tutela a liberdade de imprensa, arduamente conquistada e garantida após longo período ditatorial, que não pode ser tolhida por pretensão individual. Excepcionalmente, porém, quando o modo utilizado pelo veículo comunicativo cause violação a honra de outrem, o Judiciário poderá conceder a tutela pretendida, sem prejuízo da busca do ofendido na reparação pelos danos suportados.
Em adição, tem-se, na seara penal, o condenado poderá buscar a concretização do denominado “direito ao esquecimento”, pleiteando pelo sigilo decorrente da concessão da Reabilitação Criminal, concessível após o cumprimento de requisitos objetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal.
O direito ao esquecimento consiste na possibilidade de determinadas situações pretéritas não serem mais acessíveis à população em geral. Seria assegurado, por exemplo, ao autor de um crime que, anos após sua prática e do término da execução, seus registros desse fato não fossem mais divulgados, como forma de evitar que ele fosse eternamente punido por uma conduta equidistante, um fantasma do seu passado.
ResponderExcluirAcontece que vedar o compartilhamento de fatos reais, especialmente pela impressa, ainda que desfavoráveis a uma parcela da população, conflita com o direito constitucional de informação, previsto no inciso XIV do artigo 5º da Carta Magna.
Todavia, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal de que o direito ao esquecimento é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, pois se informar sobre o passado e todas suas nuances é uma garantia fundamental, juntamente com a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura (inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal). É por isso que mesmo com o transcurso do período depurador de cinco anos, condenações criminais podem ser utilizadas como maus antecedentes.
Não obstante, isso não significa que eventuais abusos não devam ser punidos, sendo que legislação cível se ocupa dessa seara no tocante aos direitos da personalidade, afinal não existem direitos absolutos, e em que pese a liberdade de expressão encontrar respaldo na Norma Maior, ela também limita o exercício desse direito individual ao resguardar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
Acerca do direito ao esquecimento, importa mencionar que há uma estreita correlação entre o instituto e os direitos fundamentais à intimidade e vida privada, nos termos do art. 5º, X da CF. Na mesma linha, o Código Civil, em seu art. 21, garante a vida privada como um direito da personalidade. Em semelhante sentido, o art. 64, I, CP, restringe os efeitos temporais da reincidência, com o prazo de cinco anos. Em situação fática, entendeu o STJ ser possível um direito ao esquecimento. Ao contrário, o STF recentemente entendeu de maneira diversa, pela inexistência de um direito ao esquecimento na seara cível. De forma similar, é entendimento do STF que o prazo do art. 64, I, CP não deve ser levado em conta para efeito de consideração dos antecedentes criminais. Portanto, segundo o STF, entende-se inexistir direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento surge como um meio de preservação do direito a personalidade, mas especificamente o direito a intimidade, privacidade e honra (art. 5ª, inc. X, CF, art. 21 do CC).
ResponderExcluirTrata-se da impossibilidade da Administração Pública, ou meios de comunicação (jornais, televisão, internet), de noticiarem fato verídico, geralmente criminal ou desonroso - mas não só, podendo ser aplicado a qualquer fato que a pessoa envolvida queira que não mais seja lembrado - que, devido ao transcurso do tempo, se caracterizaria uma exploração das pessoas envolvidas, preservando assim o direito das partes envolvidas de não mais quererem ser lembradas por tais fatos. Frise-se que, em se tratando de fatos criminais, não só em o condenado/suspeito pode querer se valer dessa teoria, mas também vítimas ou parentes de vítimas que não mais desejam reviver a dor que já passaram.
No Brasil houve decisões que, alicerçadas em tal direito, determinaram que meios de comunicação não noticiassem ou relembrassem de determinado fato devido ao transcurso de grande lapso temporal, sempre com embasamento na proteção do direito a intimidade, privacidade e honra das pessoas envolvidas (art. 5ª, inc. X, CF, art. 21 do CC). Recentemente o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema. Em julgamento de repercussão geral definiu, na contramão de várias decisões sobre o assunto, que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Na ponderação de valores, prevaleceu a liberdade de expressão (art. 5º, inc. IX, CF), não impedindo que eventuais abusos possam ser analisados caso a caso, e responsabilizados no âmbito cível ou penal, se cabível.
O art. 5º, X, da Constituição Federal (CF/1988) estabelece a inviabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Em que pese a relevância do direito à intimidade em nosso ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal não reconhece o direito ao esquecimento, que consiste na proibição de divulgação de fatos passados, verídicos e de interesse público relacionados ao indivíduo ou na exclusão desses registros.
ResponderExcluirCom efeito, o art. 20 do Código Civil prevê que a utilização da imagem da pessoa ou a publicação e a divulgação de escritos relacionados a ela exigem o seu consentimento, ou precisam ser necessários à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. O STF, atribuindo interpretação conforme a esse dispositivo, na ADI 4.815, afastou a necessidade de consentimento de pessoas biografadas ou de seus coadjuvantes, tendo em vista o interesse público na divulgação desses fatos e a liberdade de expressão. E esse mesmo raciocínio de ponderação entre o direito à intimidade e a liberdade de expressão pode ser aplicado ao direito ao esquecimento, pois se os fatos são de interesse público – como é o caso do cometimento de crimes – e se foram tomadas as devidas cautelas na verificação de sua veracidade, a liberdade de imprensa subsiste.
Por outro lado, na esfera penal, a pessoa pode ter direito ao sigilo dos registros através da reabilitação criminal, prevista nos artigos 93 a 95 do Código Penal. Trata-se de instrumento voltado à ressocialização da pessoa condenada, quando, após dois anos da extinção da pena, ela demonstre bom comportamento, preenchendo os requisitos legais do Código. Frise-se que a CF/88, em seu art. 5º, XLVII, “b”, veda as penas perpétuas, podendo o estigma de uma condenação criminal ser comparado a ela.
O direito ao esquecimento é a pretensão de impedir a divulgação de fatos e dados que, embora verídicos e obtidos licitamente, se tornaram descontextualizados ou sem relevância pública em razão do decurso do tempo. Em outros termos, é o direito de não ser lembrado por situações pretéritas indesejadas.
ResponderExcluirO Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade do referido direito com a Constituição Federal, afirmando que eventuais excessos devem ser analisados caso a caso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, privilegiando a liberdade de expressão e de informação, sem se descuidar da proteção dos direitos à personalidade, à imagem e à vida privada.
A decisão prestigia o direito à liberdade de imprensa – especialmente em uma perspectiva intergeracional, permitindo que gerações futuras tomem conhecimento de fatos ocorridos no passado -, podendo ser limitado apenas quando o conteúdo veiculado for falso ou violar direitos da personalidade do sujeito objeto da notícia.
Na esfera criminal, no entanto, o direito ao esquecimento é aplicado, ainda que de forma temperada, em especial diante da proibição constitucional da perpetuidade das penas (art. 5º, XLVII, b, CF). Com efeito, os Tribunais Superiores têm admitido a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu após o período depurador de 5 anos, mas reconhecem que o julgador pode deixar de considerá-los para incrementar a pena-base quando verificar que as condenações são demasiadamente antigas.
A proteção ao nome e imagem, com fulcro nos artigos 5º, X da CF/88 e 17 e 21 do CC fez surgir o debate acerca da existência ou não do direito ao esquecimento, o qual visa, em suma, impedir que alguém permaneça permanentemente vinculado a determinado fato criminoso. Em contraponto, tem-se a liberdade de imprensa e direito à informação, assegurados pelos arts. 5º e 220 da CF/88.
ResponderExcluirInstado a se manifestar sobre o tema, o STF foi firme ao decidir que o Brasil não consagrou o direito ao esquecimento. No caso, um ator foi condenado pelo homicídio de uma atriz e, após cumprir a pena, pleiteou a proibição de que o crime fosse noticiado, ou produzido conteúdo (documentários e livros, por exemplo) sobre o fato. O pedido não foi acolhido.
Em outro caso, uma pessoa pugnou pela não vinculação de seu nome a fato desabonador, quando a pesquisa online não se utiliza de nenhuma outra palavra (apenas o nome). Neste caso, considerou-se desproporcional a automática vinculação no nome ao fato nos sites de busca. Ao acolher o pedido, contudo, o STF ressalvou não se tratar de direito ao esquecimento.
Destarte, no conflito entre a proteção da imagem e o direito de informação, o STF afastou a tese do direito ao esquecimento, prevalecendo a liberdade de imprensa, com a possiblidade de divulgação de fatos relacionados a registros criminais, sem abuso. A inexistência do direito ao esquecimento, no entanto, não impede a proteção jurídica de casos onde se verifica a desproporcionalidade no exercício do direito à informação.
O direito ao esquecimento perfaz ao objetivo do requerente de não ser mais vinculado a alguma situação muito antiga, ainda que esta tenha se dado de forma legal. Na perspectiva do Direito Civil, de acordo com o entendimento do STF, não há direito ao esquecimento, visto que a ordem constitucional assegura a liberdade de expressão (art. 5, CF) e a livre impressa (art. 220, § 1º, CF), já incorrendo condicionantes suficientes a estes direitos em caso de abuso, como a responsabilização civil por danos morais ou crimes contra honra. Logo, se uma reportagem for baseada em informações verídicas e de cunho público, não cabe a pessoa atingida requerer a censura exclusivamente pelo direito ao esquecimento.
ResponderExcluirAdemais, o STF, no Tema 150, sob o prisma penal, decidiu pela impossibilidade do direito ao esquecimento no que diz respeito aos registros criminais pretéritos, não sendo aplicável o período depurador de 5 anos aos maus antecedentes. Em consonância ao entendimento civil, a corte pontuou que há outros institutos capazes de equilibrar a análise de registros pretéritos, pois o art. 59, CP, permite que o julgador, em análise ao caso concreto, fundamentadamente, não aplique os registros mais antigos como maus antecedentes, caso ache suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Contudo, o STJ possui algumas decisões divergente quanto o direito ao esquecimento, apontando pela aplicação do art. 64, I, CP (período depurador da reincidência) aos registros criminais pretéritos que geram maus antecedentes, vez que a CF veda penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, ‘b’) e que a análise do instituto deve perpassar pela proporcionalidade e pela finalidade ressocializadora do Direito Penal.
O direito ao esquecimento consiste na supressão forçada de determinada informação porque seu conteúdo viola a intimidade de alguém. É necessário, ainda, que o fato tenha ocorrido há bastante tempo. Sua discussão teve início quando a Xuxa, apresentadora de programas infantis, buscou apagar seus registros em filmes com conteúdo adulto antigos.
ResponderExcluirO tema envolve o embate de dois direitos fundamentais: liberdade de expressão e direito à intimidade (respectivamente art. 5º, IX e X da CF) e o STF tem precedente qualificado afirmando que o ordenamento jurídico brasileiro não consagra o direito ao esquecimento.
Na decisão, esclarece o STF que o direito à informação tem especial relevância. Assim sendo, eventuais lesões individuais à intimidade devem ser indenizadas. Isso porque a censura da imprensa culmina na supressão do próprio direito da população a conhecer sua história. Nesse mesmo sentido, a ADIN 4.815 declarou inexigível a autorização dos bibliografados dando interpretação conforme aos art. 20 e 21 do Código Civil.
Salienta-se que o direito ao esquecimento não se confunde com o direito à desindexação. Esta, por sua vez, é permitida. No caso da Promotora de Justiça que foi investigada por fraude em certames públicos, a solução foi desindexar as notícias relativas ao fato criminoso do seu nome. Assim, a informação não foi suprimida da internet, no entanto, a busca do nome da Promotora na internet não suscita automaticamente essa informação.
Assim, tendo em vista que o próprio Código Penal possibilita o sigilo dos processos em caso de reabilitação (art. 93), com ainda mais razão é prudente permitir a desvinculação de determinados fatos às pessoas. Especialmente nos casos em que não houve condenação formal. Isso, reitera-se, não suprime tais informações do domínio público e não se confunde com o direito ao esquecimento.
O denominado “direito ao esquecimento”, cujo conceito é o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, que sejam negativos ao agente, foi tema de recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tendo restado fixado que o ordenamento jurídico pátrio não alberga referido direito. Concluiu a Suprema Corte que a exclusão de informações acerca de determinado fato pretérito é prejudicial à coletividade, ponderando-se que o direito individual ao esquecimento não se sobrepõe ao direito social de informação.
ResponderExcluirO Código Civil de 2002 dispõe no capítulo sobre os direitos de personalidade, acerca da ilegalidade de associar o nome da pessoa em publicações que a exponham ao desprezo público (art. 18). Desse modo, o julgamento mencionado excluiu tais situações, porquanto tenha limitado aos fatos ou dados verídicos, devendo o veículo de imprensa limitar-se a prestar a informação, sem incorrer no abuso de direito apto a configurar a ilegalidade do art. 18, CC.
Importa ressaltar a previsão do art. 64, I do Código Penal, sobre os registros criminais que não configurem reincidência (tecnicamente primário). Para fins de maus antecedentes, entende o Superior Tribunal de Justiça que todos os registros anteriores à data do fato criminoso em análise são considerados maus antecedentes, com diversas implicações, desde a majoração da pena-base até a exclusão de benefícios, como o livramento condicional na hipótese do art. 83, I, CP. No que toca o julgamento acerca do direito ao esquecimento, também não há possibilidade de exclusão das informações, salvo se verificado, no caso concreto, prejuízo desproporcional ao indivíduo.
A Constituição Brasileira de 1988 visou assegurar os direitos fundamentais aos indivíduos, visto que fundou um Estado Democrático de Direito, incluindo o direito à liberdade de expressão (art. 5º, IV, CF) e a liberdade de expressão da atividade intelectual (art. 5º, IX, CF). Nesse sentido, na efetivação de tais direitos, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a liberdade de expressão e manifestação é a regra, ao passo que eventuais excessos devem ser dirimidos no caso concreto.
ResponderExcluirAnte a tais garantias da liberdade, também são assegurados ao indivíduo o direito à vida privada (art. 5º, X, CF), bem como toda a sistemática civilista acerca dos direitos da personalidade (arts. 11 a 21) que asseguram ao indivíduo a proteção a sua privacidade e demais aspectos de sua intimidade.
Nesse contexto, surgiram diversas lides discutindo qual dos direitos prevaleceria em casos em que o condenado criminalmente postulava que fossem excluídas as notícias acerca do fato, bem como demais registros e publicações relacionadas a seu nome. Ao decidir a controvérsia, o STF decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a ordem constitucional vigente, visto que os fatos ocorridos são públicos, sendo de interesse de toda a sociedade a publicação de fatos relevantes ao histórico social.
Inclusive, também já decidiu o STF que os veículos de imprensa possuem o direito líquido e certo ao registro de óbitos registrados em ocorrências policiais. As decisões em pauta retratam a grandiosa e importante função da imprensa para a sociedade.
Ademais, ressalta-se novamente a responsabilidade do veículo de imprensa pelos eventuais excessos praticados. A referida liberdade também encontra alguns limites ao retratar as pessoas submetidas à prisão, cabendo ao juiz de garantias impedir o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, nos termos do art. 3º-F do CPP.
O direito ao esquecimento, também denominado 'direito de ser deixado em paz' ou 'direito de estar só', consiste na prerrogativa de um indivíduo de obstar a divulgação de informações verídicas relativas a eventos pretéritos de sua vida, quando tal divulgação for suscetível de causar-lhe prejuízos de ordem moral ou psicológica.
ResponderExcluirÉ um direito discutido há muito tempo, a exemplo do famoso “caso Lebach”, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1969. Porém, atualmente, a discussão continua em razão da internet, ferramenta que disponibiliza conteúdo facilmente de forma permanente, o que praticamente impossibilita um direito ao esquecimento.
Nesse sentido, em fase anterior de análise sobre o tema, o STJ proferiu julgados que afirmavam que o ordenamento jurídico brasileiro protege o direito ao esquecimento. Contudo, o deferimento, ou não, do direito ao esquecimento dependia da análise do caso concreto e da ponderação dos interesses envolvidos.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, decidiu que um “direito ao esquecimento” afronta a liberdade de expressão. Dessa forma, para coibir eventuais excessos que violem os direitos da personalidade, a pessoa que foi lesada deve valer-se de instrumentos constitucionais e legais voltadas à proteção deles.
Dessa forma, a ideia de direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, pois não se pode proibir a divulgação de fatos ou dados verídicos e legalmente obtidos. Em caso de abusos na liberdade de expressão, é possível a utilização de meios legais, penais e/ou cíveis, para coibi-los, em análise de caso a caso, em ponderação de direitos.
O “direito ao esquecimento” é a prerrogativa de não ser lembrado por fatos pretéritos que foram divulgados licitamente, mas que, em virtude da passagem do tempo, possam afetar direitos fundamentais como a vida privada e a honra.
ResponderExcluirNo entanto, o STF, em sede de repercussão geral, esclareceu ser o direito ao esquecimento inconstitucional, pois a divulgação de fatos notórios e de grande interesse público não poderia ser obstada somente pela passagem do tempo.
Ademais, o STF também elucidou que eventuais excessos cometidos pelo direito de liberdade de imprensa, previsto no art. 5, IX, da Carta Magna, poderiam ser analisados caso a caso com a possibilidade de responsabilização na esfera cível e penal.
Portanto, o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal/1988, não podendo ser reivindicado quando há relevante interesse público na divulgação dos fatos verdadeiros e veiculados de forma lícita, independentemente da passagem do tempo.
A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, como direitos fundamentais: a liberdade de imprensa (inciso IX), o acesso à informação (inciso XIV) e a intimidade (inciso X), incumbindo ao intérprete a ponderação dos correlatos valores, conforme o caso concreto.
ResponderExcluirNo mesmo sentido, o Código Civil protege os direitos de personalidade (arts. 11 e 12), entre eles o nome, a imagem e à vida privada (arts. 17, 20 e 21).
Ademais, o Código Penal assegura a reabilitação do condenado com o sigilo dos registro de sua condenação (art. 93), dando efetividade aos direitos previstos na Carta Magna e Código Civil (proteção à intimidade, honra, nome e imagem).
Nesse contexto, o STF, em jurisprudência já superada, entendia pela existência do chamado "direito ao esquecimento", em favor do condenado, com o objetivo de assegurar o sigilo dos registros criminais do condenado após o cumprimento da pena e a decorrência de um determinado lapso temporal, a fim de evitar o retorno do sofrimento das vítimas e a eterna estigmatização do condenado, possibilitando sua integral ressocialização, de modo que a proteção da intimidade, nome, imagem, vida privada e honra deveriam se sobrepor ao direito à liberdade de imprensa.
Com a superação do referido precedente, a nova jurisprudência da Corte determina não ser compatível com a Constituição Federal a existência do direito ao esquecimento, em razão do interesse público em conhecer fatos pretéritos da história que sejam notórios e verídicos, ainda que se refiram a acontecimentos remotos, privilegiando os direitos do acesso à informação e da liberdade de imprensa em detrimento dos direitos individuais das vítimas e do acusado, ressalvado o direito de resposta e indenização (art. 5º, V, CF/88).
Trata-se do direito de que fatos negativos e que tiveram grande repercussão sejam apagados dos meios analógicos e digitais em decorrência da passagem do tempo.
ResponderExcluirHá, nessa situação, conflito entre direitos fundamentais, isso porque a pessoa busca que fatos a ela desabonadores ou que lhe causem algum sentimento de aflição e tristeza sejam retirados dos meios digitais e analógicos para que possam ser “esquecidos”, em respeito ao seu direito à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, CF/88). De outro lado, tem-se o direito à livre expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação assegurado aos meios de comunicação, eletrônicos ou não (art. 5º, IX, CF/88).
Essa questão chegou ao STF (caso Aída Curi), firmando o entendimento de que não é possível o reconhecimento do direito ao esquecimento, em observância ao direito à liberdade de expressão e vedação à censura, nos casos em que os fatos retratados são verídicos e obtidos licitamente, estando excluídos dessa situação os casos de abusos ou excessos cometidos pelos veículos de comunicação.
O STJ, fazendo distinguishing do caso referenciado, entendeu que é possível a desindexação do nome de uma pessoa a fatos a ela desabonadores, uma vez que, nessa situação, não se pretende a exclusão da matéria jornalística. Da mesma forma, o STJ vem entendendo que os registros criminais cujo tempo ultrapasse o período depurador da reincidência podem ser utilizados na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, não se tratando de caso de direito ao esquecimento.
O direito ao esquecimento garante a uma pessoa a possibilidade de impedir a exposição pública de um fato, seja ele verdadeiro ou não, sempre que essa divulgação possa lhe causar transtornos ou sofrimentos.
ResponderExcluirNeste contexto, os defensores do direito ao esquecimento no Brasil, entendem que ele possui fundamento na Constituição e na legislação, buscando preservar o direito à privacidade, intimidade e honra, assegurados pela CF/88 (art. 5º, X) e pelo CC/02 (art. 21). Há entendimentos por parte de outros estudiosos de que o direito ao esquecimento é uma decorrência da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88).
Assim, a discussão quanto ao direito ao esquecimento envolve um aparente conflito entre a liberdade de expressão e informação, além de aspectos individuais da pessoa humana, a exemplo da intimidade, privacidade e honra. Apesar disso, o STF, ao analisar a questão, entendeu ser incompatível com a CR a ideia de um direito ao esquecimento, de modo a impedir que os meios de comunicação social, divulguem informações licitamente adquiridas por eles.
O STF entendeu, ademais, que eventuais arbitrariedades no exercício da liberdade de expressão devem ser analisadas caso a caso, à luz dos parâmetros constitucionais, bem como o que dispõe a legislação civil e penal.
Deste modo, observados estes parâmetros, bem como que a notícia veiculada não tenha por fim difamar, injuriar ou caluniar, não é exigível dos meios de comunicação que retirem informações pretéritas dos seus sites ou onde ela tenha sido veiculada, a pretexto de ofensa de qualquer ordem ao direito da pessoa envolvida com aquela circunstância.
O direito ao esquecimento constitui-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial na qual se estabeleceu uma decorrência do direito à intimidade e vida privada relacionada com um suposto direito à não rememorar fatos da vida privada do indivíduo que se tornaram notórios com divulgação pela mídia. Nesse sentido, o direito ao esquecimento seria uma obrigação de que os veículos de comunicação não rememorassem esses fatos que se tornaram conhecidos como forma de não perpetuar a pena do indivíduo que cometeu esses fatos, em respeito inclusive à vedação de penas de caráter perpétuo. O Supremo Tribunal Federal, em conhecido julgado, reconheceu o direito ao esquecimento em caso envolvendo programa de televisão que fez uma reportagem relacionada a um crime cometido por uma pessoa no passado. Posteriormente, o mesmo STF entendeu que, na ponderação entre a liberdade de imprensa e o suposto direito ao esquecimento, prevalece a liberdade de imprensa, não mais reconhecendo um direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Os registros criminais pretéritos podem não valer para antecedentes criminais e reincidência, mas há direito à liberdade da imprensa de fazer reportagens acerca dos fatos passados, sem que isso configure uma ofensa ao direito de imagem da pessoa. Contudo, em respeito aos incisos V e X do art. 5º Constituição Federal, fica ressalvado, em todo caso, direito de resposta, além de indenização proporcional ao gravo, em caso de dano moral, material, à imagem ou a honra da pessoa. Além da tutela geral dos direitos de personalidade prevista no art. 12 do Código Civil. Contudo, fica garantido o direito à liberdade de imprensa, conforme o inciso IX do art. 5º da CF/88.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento constitui-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial na qual se estabeleceu uma decorrência do direito à intimidade e vida privada relacionada com um suposto direito à não rememorar fatos da vida privada do indivíduo que se tornaram notórios com divulgação pela mídia. Nesse sentido, o direito ao esquecimento seria uma obrigação de que os veículos de comunicação não rememorassem esses fatos que se tornaram conhecidos como forma de não perpetuar a pena do indivíduo que cometeu esses fatos, em respeito inclusive à vedação de penas de caráter perpétuo. O Supremo Tribunal Federal, em conhecido julgado, reconheceu o direito ao esquecimento em caso envolvendo programa de televisão que fez uma reportagem relacionada a um crime cometido por uma pessoa no passado. Posteriormente, o mesmo STF entendeu que, na ponderação entre a liberdade de imprensa e o suposto direito ao esquecimento, prevalece a liberdade de imprensa, não mais reconhecendo um direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Os registros criminais pretéritos podem não valer para antecedentes criminais e reincidência, mas há direito à liberdade da imprensa de fazer reportagens acerca dos fatos passados, sem que isso configure uma ofensa ao direito de imagem da pessoa. Contudo, em respeito aos incisos V e X do art. 5º Constituição Federal, fica ressalvado, em todo caso, direito de resposta, além de indenização proporcional ao gravo, em caso de dano moral, material, à imagem ou a honra da pessoa. Além da tutela geral dos direitos de personalidade prevista no art. 12 do Código Civil. Contudo, fica garantido o direito à liberdade de imprensa, conforme o inciso IX do art. 5º da CF/88.
ResponderExcluirO direito ao esquecimento é entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos verídicos obtidos de forma lícita e publicados em meio de comunicação social. Esse direito estaria relacionado a alguns direitos fundamentais constitucionais, como direito à honra, à imagem, à privacidade e da personalidade em geral. Contudo, esse direito não é absoluto.
ResponderExcluirO STF já firmou entendimento no sentido de que o direito ao esquecimento, da forma como descrito acima, é incompatível com a Constituição, visto que encontra óbices no princípio da publicidade e da liberdade de imprensa, por exemplo.
Da mesma maneira, o STJ entendeu ser incabível o esquecimento, quando existir evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de delito notório, não tendo como proibir a veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato criminoso que já teve sua pena cumprida. Isso seria flagrante situação de censura prévia.
O direito ao esquecimento, também chamado de “direito de ser deixado em paz”, traduz-se na impossibilidade de exibição de fato, ainda que verídico, seja exposto e veiculado ao público em geral, o que pode ocasionar transtornos aos envolvidos no fato exibido/veiculado. Instituto já enfrentado nos tribunais europeus, notadamente alemães e franceses, têm pertinência jurídica nacional, pois relaciona-se ao direito constitucional interno, tendo em vista a CF/88 ter sido fundada sob o pilar axiológico dos direitos fundamentais, qual seja, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88); bem como ao direito civil, pois envolve os direitos de personalidade, como a privacidade, intimidade e honra (art. 5º, X da CF/88 c/c art. 21 do CC/02); e ainda, ao direito penal, posto que dentre os efeitos da pena não se inclui a eterna veiculação de condenação criminal.
ResponderExcluirAinda dentro dos fundamentos da CF/88, encontra-se o pluralismo político (art. 1º, V da CF/88), trabalhando a ideia de a república brasileira ser pautada em diversidade ideológica, cultural, política, de modo que possa ser externalizada por meio da liberdade de expressão, manifestação e informação (art. 5º, IV e IX da CF/88), vedado a censura prévia. Dentro do conjunto de direitos fundamentais reconhecidos pela carta da república, sedo a concorrência uma de suas características, há de se reconhecer a inexistência de direito absoluto, aplicando-se a técnica da ponderação na solução de conflitos de direitos com status constitucionais.
O conflito entre os direitos de personalidade (privacidade e honra) vs. liberdade de informação foi enfrentado pelas cortes superiores, tanto STF quanto STJ, de modo que o STJ até chegou a reconhecer em alguns casos a aplicação desse direito no Brasil em situações específicas, sempre fazendo a ressalva quanto ao interesse público, direito à memória e fatos verídicos. Já o STF, em tema de repercussão geral, definiu tese de incompatibilidade do direito ao esquecimento ao ordenamento jurídico interno, posto que a constituição cria mecanismos próprios de limitação da liberdade de impressa (art. 5º, V da CF/88), bem como tanto o direito civil quanto penal, protegem ao seu modo eventuais danos que surjam em exercício da liberdade de informação.
O direito ao esquecimento pode ser conceituado como a possibilidade de se obstar a divulgação de fatos lícitos e verídicos obtidos e publicados em meios de comunicação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que nossa Constituição não consagra tal direito. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão devem ser analisados casuisticamente, a partir de disposições previstas na própria Constituição e também no Código Civil.
ResponderExcluirA liberdade de expressão, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal goza de supremacia prima facie, quando em confronto com outro direito fundamental, sendo que eventuais excessos devem ser apurados de forma posterior.
No caso, a discussão sobre o direito ao esquecimento envolve possível colisão não apenas com a liberdade de expressão, mas também com outros direitos fundamentais, sobretudo a dignidade da pessoa humana e direito à ressocialização. Contudo, deve haver ponderação no caso concreto, a fim de que o interesse público prevaleça.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema em relação ao direito ao esquecimento, no sentido de que este é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que restringiria a liberdade de expressão, sendo está a pedra de toque da democracia, motivo pelo qual faz jus à especial proteção. Fatos verídicos, coletados e divulgados de maneira lícita não podem ser previamente censurados. Eventuais abusos devem ser analisados de forma casuística e a posteriori.
ResponderExcluirTal precedente surgiu a partir de programa televisivo que reapresentou um caso de muitos anos atrás, de uma garota brutalmente assassinada, de maneira que a família postulou indenização por ter revivido o trauma, alegando fazer jus ao direito ao esquecimento em relação ao ocorrido. Como fundamento para a negativa, entendeu-se que a liberdade de imprensa, conquistada com o advento da CRFB/88, constitui verdadeiro veículo para promoção de direitos fundamentais e concretização da democracia, sendo retrocesso censurá-la previamente.
A despeito de tal entendimento, na seara do direito penal, ainda que os maus antecedentes não possuam prazo, tal como ocorre com a reincidência, quando tratar-se de ilícito cometido com grande lapso temporal, em que já não seja mais capaz de influir nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não devem ser considerados, evitando-se punições com caráter perpétuo, as quais são constitucionalmente vedadas.
Todavia, ainda não restou definido qual espaço temporal deve ser suficiente para o afastamento da circunstância negativa.
O direito ao esquecimento pode ser definido como direito do indivíduo de proibição e informação sobre atos ilícitos que tenha praticado, após o decurso de determinado lapso temporal.
ResponderExcluirNeste cenário, o Supremo Tribunal |Federal já decidiu que o direito ao esquecimento não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a divulgação ou disponibilização de informações verdadeiras sobre fatos pretéritos encontra-se alinhado ao direito de liberdade de imprensa.
Importa destacar, outrossim, que tal liberdade não é ampla e incondicionada, podendo gerar o dever de indenizar, caso a informação propagada atinja terceiros ou ultrapasse a mera comunicação do fato.
De outro lado, sob o aspecto penal, um ilícito pretérito é apto a configurar a reincidência durante o prazo de cinco anos, contados a partir da extinção da pena e, depois desse período,pode ser utilizado como maus antecedentes, sem prazo definido, cabendo ao magistrado analisar no caso concreto sua consideração.
Diante de todo o exposto, é notório que as normas do direito pátrio, como bem apontado pelo STF, são voltadas a não permitir o reconhecimento do direito ao esquecimento.
O direito ao esquecimento consiste na pretensão de não ter a vida exposta por fatos desabonadores ocorridos no passado, recente ou remoto, da pessoa. Tem origem no Direito Alemão (caso Lebach) e, aqui no Brasil, não foi encampado pela jurisprudência da Suprema Corte, que decidiu o tema em julgamento com eficácia vinculante.
ResponderExcluirCom efeito, subjacente à possibilidade de existência do direito ao esquecimento está o conflito entre a liberdade de expressão (inc. IX do art. 5º da CF), inviolabilidade da vida privada (inc. X do art. 5º da CF) e direito à honra (inc. X do art. 5º da CF). Para que se resolva tal conflito, é necessário que o aplicador do Direito se valha do princípio da convivência prática dos direitos fundamentais, utilizando o sopesamento dos interesses envolvidos, não de censura prévia.
Na jurisprudência, o direito ao esquecimento já foi invocado para fundamentar decisões, notadamente no STJ. Contudo, após o STF sedimentar a posição no sentido de ser tal instituto incompatível com o Ordenamento Jurídico pátrio, a Corte Cidadã passou também a não admiti-lo. Sob essa ótica, ainda que venha a expor a pessoa retratada na notícia, esta não será censurada por eventual desonra que possa gerar.
Malgrado isso, é fato que existem parâmetros de aferição para a legitimidade do exercício da liberdade de expressão. Nesse sentido, a notícia será legítima quando for verídica, de interesse público e o veículo jornalístico fazer uma análise de razoabilidade entre o que se publica e o retorno esperado para a população, desincumbindo-se do dever de cuidado.
No que toca à veiculação de notícias envolvendo crimes, é necessário ressaltar que a notícia em si de uma violação penal já é de interesse público. Ainda que se cogite eventual violação do direito de ressocialização, fatos criminosos passados podem ser de interesse público, notadamente quando tenham o condão de chocar a sociedade.
Por fim, cabe pontuar que a vedação à tese do direito ao esquecimento não é incompatível com o dever de desindexação dos provedores de busca, quando resultados de pesquisas não direcionadas à pessoa redundam, recorrentemente, em um fato desabonador a ela vinculado. Nesse diapasão, o STJ já determinou que um sítio de busca se abstivesse de fornecer link com nome de pessoa nessas condições.
O direito ao esquecimento, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), diz respeito à possibilidade de atos e/ou fatos realizados por determinado indivíduo não sejam mais imputados a ele. Ou seja, toda a sociedade precisaria deletar registros, físicos e mentais, de que determinada informação diz respeito àquela pessoa ou que de fato ocorreu.
ResponderExcluirOcorre que, de acordo com o STF, esse tipo de pedido vai de encontro aos objetivos de um Estado Democrático, em que a informação deve ser disseminada sem óbices. Portanto, há conflito entre direitos, de um lado alguém buscando proteger sua honra ou imagem, e de outro, o direito de acesso à informação, previsto constitucionalmente, de uma sociedade, a qual não pode ignorar fatos ocorridos e que fazem parte de sua história.
Consoante entendimento firmado pela Corte, não é possível simplesmente ignorar fatos ocorridos e, por isso, é inconstitucional o direito ao esquecimento, pois feriria diversos direitos fundamentais aduzidos na carta magna, dentre eles, a liberdade de imprensa e de pensamento.
Por fim, registros criminais pretéritos não podem ser utilizados para coibir alguém do exercício de seus direitos nem como eterna possibilidade de aumento de pena, porque, assim, estaríamos diante de uma consequência perpétua, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.
O direito ao esquecimento consiste no poder de impedir a veiculação de informações ou dados verídicos e licitamente obtidos, em meios digitais ou analógicos de comunicação, em razão da passagem do tempo. Ele usualmente é invocado por indivíduos para obstar a divulgação de fatos desabonadores ocorridos em momento pretérito.
ResponderExcluirEsse direito decorre do princípio da inviolabilidade da vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da CF/88). Doutra banda, colide com outros princípios constitucionais: As liberdades de imprensa e de expressão (art. 5º, IX, XIII e XIV, da CF/88).
Apesar de certa instabilidade jurisprudencial – já tendo sido reconhecido pelo STJ – o STF assentou, em sede de repercussão geral, que o direito ao esquecimento é incompatível com o arranjo constitucional, inclusive em razão da vedação à censura, mas ressalvou a possibilidade de indenização em caso de danos materiais e morais pela comprovada violação à imagem, com suporte nos arts. 17 e 20 do Código Civil.
No âmbito penal, os registros criminais pretéritos podem ser considerados como reincidência (agravante) ou maus antecedentes (arts. 63 e 59 do CP, respectivamente). A reincidência submete-se ao direito ao esquecimento, pois desconsidera-se após o decurso de 05 anos do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I do CP), ao passo que aos maus antecedentes aplica-se o princípio da perpetuidade, consoante entendimento do STJ. Apesar disso, esse tribunal já reconheceu a incidência do direito ao esquecimento nos antecedentes, quando se tratarem de registros extremamente antigos.